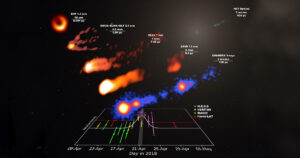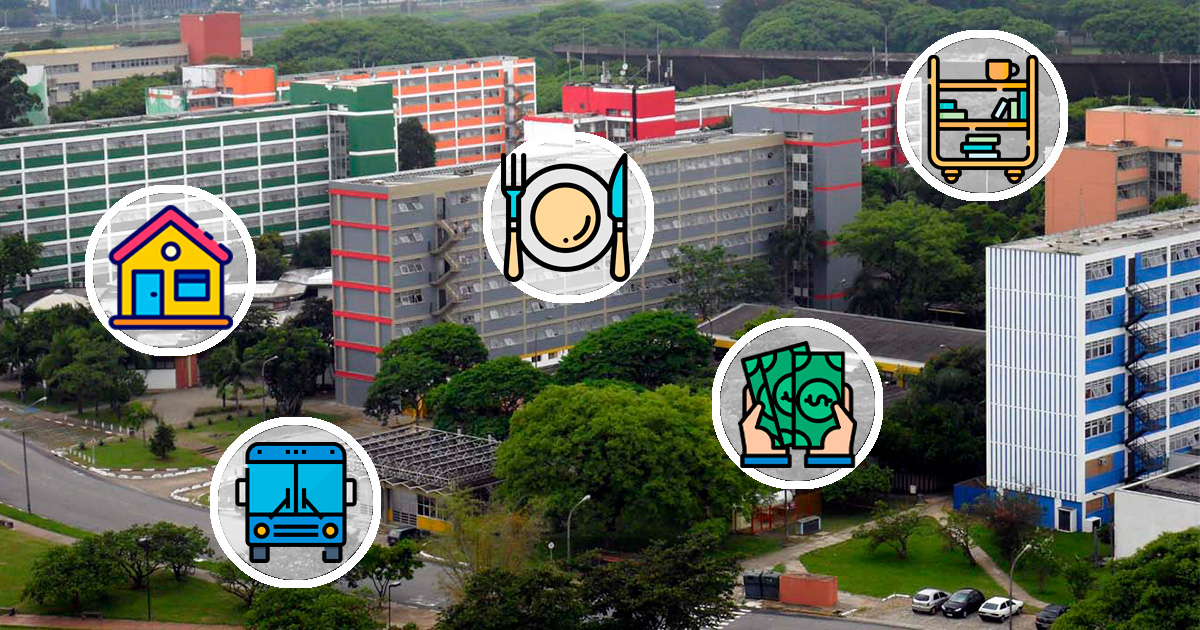Mas o que fazer quando um desses lados está sabidamente faltando com a verdade – distorcendo, ocultando ou inventando fatos com o propósito de desviar a opinião pública da realidade?
O jornalismo científico é especialmente sensível a essa questão, pois nenhuma atividade humana é mais apegada aos fatos do que essas duas: o jornalismo e a ciência. É um dilema que sempre existiu, pois nunca faltaram charlatões e mentirosos para contaminar o debate público, mas que se encheu de tentáculos nos últimos anos, e agora nada de braçada na onda das redes sociais.
Argumentos falaciosos, notícias falsas e teorias da conspiração, que antes dependiam de uma transmissão boca a boca para se propagar e dificilmente extrapolavam os limites da mesa de bar, agora viralizam quase que instantaneamente via internet e pelo “zap zap”, infectando a mente de milhões de pessoas, interferindo em processos democráticos, propagando falsas curas, aumentando o risco de epidemias e colocando em risco o futuro da vida na Terra – entre outras mazelas.
Ouvir os “dois lados” é necessário, sim. Sempre. Mas há um compromisso ainda maior do jornalismo, que se sobrepõe a esse e a todos os outros: o compromisso com a verdade. Não a verdade individual do jornalista nem a verdade individual dos seus entrevistados, mas a verdade dos fatos.
Claro que essa “verdade” nem sempre é óbvia, muito menos cristalina, e é preciso cuidado para não cercear a liberdade de expressão nem desmerecer opiniões polêmicas, divergentes ou até mesmo incômodas. Mas a busca da verdade deve ser sempre o objetivo principal a nortear o trabalho jornalístico. Informações, declarações e opiniões de veracidade duvidosa – ou que não podem ser imediatamente comprovadas, por qualquer motivo – podem até fazer parte do noticiário, mas devem ser sempre apresentadas de forma responsável e transparente, acompanhadas das devidas ressalvas e contextualizações.
Vejamos o caso das mudanças climáticas. Até que ponto o jornalismo deve dar voz aos chamados “céticos” ou “negacionistas” do aquecimento global? Será que toda reportagem sobre mudanças climáticas, para ser justa, deveria trazer o “outro lado” de algum cientista negando a existência do fenômeno? Não.
Até uns 15 anos atrás, eu diria (outros diriam muito mais), ainda era minimamente razoável questionar a responsabilidade do homem sobre o aquecimento global, e as consequências desse aquecimento para a vida na Terra. A ciência já era bastante assertiva, mas faltava a ela, ainda, uma certa robustez. Ok, não há dúvida de que a concentração de CO2 na atmosfera está aumentando e que a temperatura média da Terra está aumentando. Mas será que uma coisa é mesmo a causa da outra? Será que o homem é mesmo culpado? Não seria um processo natural? Precisamos mesmo nos preocupar tanto com isso?
Lembro de me digladiar com essas questões no início da minha carreira jornalística, no começo dos anos 2000, quando passei a ter mais contato com o tema. Não tenho vergonha de admitir isso, pois o questionamento é parte essencial do bom jornalismo. Se eu simplesmente aceitasse tudo que os meus entrevistados dissessem sem questionamento, eu seria um péssimo jornalista. Não importa quantos papers nem quantos PhDs o sujeito tem no currículo, eu vou sempre questionar: “Qual é a base dessa afirmação? De onde vem o dado? Como ele foi produzido? Já está publicado? Me mostra o paper”. No fim das contas, é isso: convença-me, ou te ignoro.
Pois bem, me convenceram. As mudanças climáticas, hoje, são um fato tão inequívoco e cientificamente comprovado quanto a circunferência da Terra. Quem diz isso não é um cientista, nem dois, nem três – são milhares de pesquisadores, com base em milhares de pesquisas, realizadas ao longo de dezenas de anos, com resultados que podem até divergir nos detalhes, mas apontam todos numa mesma direção: o aquecimento global é uma realidade, a situação é gravíssima e quem está causando o problema (e tem obrigação de resolvê-lo) somos nós mesmos. Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) estão aí para comprovar isso. Se ainda restavam dúvidas sobre a influência do homem no início do século, elas foram dirimidas em 2007, com a publicação do quarto relatório, e aniquiladas por completo em 2014, com o relatório cinco.
Não que não haja mais espaço para dúvidas e questionamentos. A complexidade do sistema climático global é imensa, e há muitas coisas – muitas mesmo! – que ainda precisam ser elucidadas sobre o seu funcionamento. Engana-se quem pensa que o IPCC é um clubinho de cientistas amigos que se juntam para trocar figurinhas, passear com a família e escrever um relatório de vez em quando. Quem conhece os bastidores desse processo sabe que cada linha desses relatórios é forjada a ferro e fogo, entre muitos tapas e beijos. E é ótimo que seja assim. Quanto mais os cientistas brigarem entre eles, melhor; pois na ciência quem vence não é quem fala mais alto (ou tem mais seguidores no Twitter), mas quem faz a melhor pesquisa e apresenta os melhores dados para sustentar sua argumentação.
O consenso sobre as causas e a gravidade da crise climática só não é absoluto porque não existe consenso absoluto sobre nada entre os seres humanos. Afinal, somos seres humanos. Se até hoje tem gente questionando coisas tão ridiculamente óbvias quanto a circunferência da Terra, imagine, então, algo tão complexo e difícil de ser compreendido quanto o sistema climático global (que, diga-se de passagem, depende do fato de a Terra ser redonda para funcionar). Sempre haverá aqueles interessados em dizer que tudo não passa de uma farsa. A pergunta é: os argumentos que eles apresentam para dizer isso são válidos? Não. São convincentes? Não.
O negacionismo climático, hoje, merece tanta credibilidade por parte da imprensa quanto o terraplanismo ou o movimento antivacinas. Imagine se a cada reportagem sobre o lançamento de satélites você tivesse que ouvir o “outro lado” de alguém dizendo que a Terra é plana; ou se a cada notícia sobre a epidemia de sarampo você tivesse que incluir o comentário de alguém dizendo para as pessoas não se vacinarem, porque as vacinas são perigosas. O mesmo vale para os negacionistas da crise climática, que, infelizmente, ainda encontram espaço para divulgar suas falsas premissas e sua falsa ciência em alguns segmentos da mídia nacional.
O trabalho do jornalista não pode se resumir ao de um mero interlocutor acéfalo; um reprodutor de declarações que simplesmente ouve o que cada lado tem a dizer para depois escrever: Fulano disse isso, ciclano disse aquilo, sem qualquer tipo de triagem ou checagem da veracidade – ou, pelo menos, da plausibilidade – daquilo que está sendo dito. Para isso já existe a internet e o WhatsApp.
Afinal de contas, esse é o grande diferencial do jornalismo profissional, que hoje se faz mais necessário do que nunca. Se for apenas para saber o que cada lado da questão pensa, basta usar as redes sociais; seguir o Twitter do fulano e do ciclano. Cabe ao jornalista a responsabilidade de peneirar o cascalho e filtrar o lodo da internet para garantir que as informações que chegam à sociedade pelas suas mãos são as mais confiáveis e factuais possíveis.
Exercer esse filtro jornalístico com responsabilidade exige expertise. Especialmente no campo da ciência, que expõe o jornalista a assuntos multidisciplinares, multifatoriais e de altíssima complexidade – como é o caso das mudanças climáticas. É imprescindível que as redações mantenham em seus quadros jornalistas não apenas competentes, mas qualificados a lidar com esse nível de complexidade técnica e científica. Só assim a imprensa poderá tratar o tema com a seriedade necessária.
Um dos veículos que têm tomado a dianteira na discussão desse tema é o jornal britânico The Guardian. Em maio deste ano, a publicação anunciou que passaria a utilizar preferencialmente os termos “crise” e “emergência” climática, no lugar de “mudança climática”, com o intuito de melhor transmitir aos seus leitores a gravidade da situação. Curiosamente, a imagem que os editores escolheram para ilustrar esse anúncio foi a foto de um bando de ursos-polares famintos comendo lixo no norte da Rússia. Cinco meses depois, em um novo processo de autorreflexão, o jornal anunciou que também passaria a ilustrar suas matérias sobre o tema preferencialmente com imagens de seres humanos, em vez de ursos-polares, para deixar claro que os maiores prejudicados pela crise climática somos nós mesmos.
“Hoje nos comprometemos a dar à crise climática a atenção que ela demanda”, escreveu a editora-chefe do jornal, Katharine Viner, em 16 de outubro. “Acreditamos que a equipe especializada de repórteres, editores e escritores do Guardian tem um papel vital a desempenhar ao trabalhar com nossos leitores para entender a crise climática que se desenrola e todas as suas ramificações.” Perfeito. Que outros sigam o seu exemplo.
Ouvir os dois lados é, sim, uma obrigação do jornalista. Mas nem tudo que se ouve deve ser passado adiante. Ouvir não é sinônimo de “dar voz”. O “ouvir” deve vir sempre acompanhado do “questionar”, seguido pelo “verificar”, e finalizado pelo “depurar”. Só porque há um lado que diz que o aquecimento global não existe, que as vacinas fazem mal, que alimentos transgênicos causam câncer, que a Terra é plana, que o homem nunca pisou na Lua ou que a evolução por seleção natural é “apenas uma teoria”, não significa que essas opiniões devam ser repassadas à sociedade como um contraponto válido a evidências factuais amplamente corroboradas pela comunidade científica internacional.
A obrigação maior do jornalista é garantir que as informações que ele transmite para a sociedade sejam as mais corretas e verdadeiras possíveis. Repassar informações inverídicas à sociedade, simplesmente para constar nos autos que se “ouviu os dois lados”, é um desserviço à sociedade e uma burocratização estúpida do trabalho jornalístico. Dar voz à mentira não é prova de imparcialidade, mas de irresponsabilidade.
Artigo publicado originalmente em comciencia.br