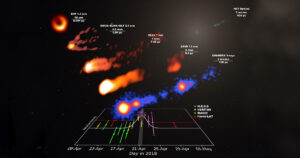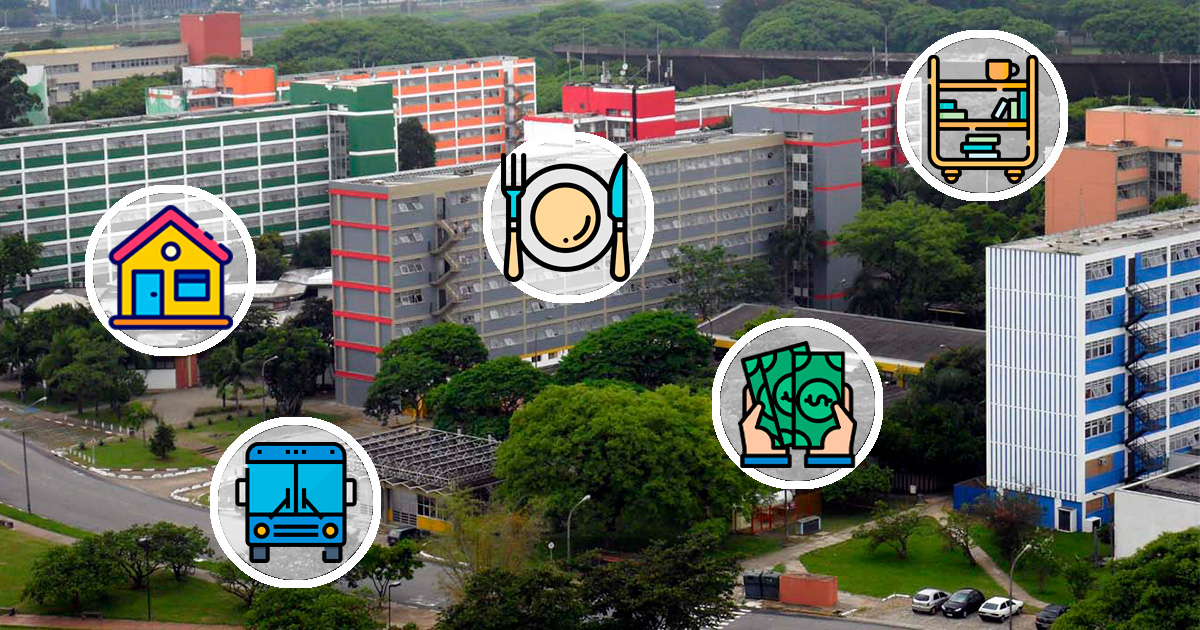“La décolonisation est véritablement
création d’hommes nouveaux”
Frantz Fanon, Les damnés de la terre[1]
Habituados que fomos, desde meados do século XIX, a enxergar o passado (o Brasil Colônia, a América Portuguesa, etc.) como etapa da teleologia dita pré-nacionalista, os manuais de História do Brasil continuam a resumir o ano de 1929 a uma das várias crises do capital: o famigerado crack da bolsa, em Nova York. A data é sobremodo importante, para além do impacto devastador provocado na órbita econômica: enquanto especuladores norte-americanos arruinavam a si mesmos e aos outros, na inglória tentativa de salvaguardar a pele em meio à (des)ordem dos números, um grupo de jovens historiadores criava, na França, a Revue des Annales[2] – considerada um marco dos novos modos de vislumbrar e fazer História.
Isso significa que, há pelo menos 90 anos, desconfia-se que a historiografia não defende mais a inexorabilidade dos documentos, fatos, testemunhos ou evidências. Compreendida, desde o século XIX, como ciência (saber específico) e reconfigurada como disciplina curricular, passou-se a discuti-la como discurso plurívoco que registra eventos de breve ou longa duração (história a respeito de). Quer dizer, há quase um século admite-se que uma das tarefas do historiador é problematizar o pretérito, sem perder de vista que a escrita da história envolve um conjunto de artifícios textuais, combinados a diferentes versões (ou percepções) sobre determinado evento, situado geográfica e temporalmente.
Na última semana de setembro, o atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, movimentou as redes sociais com dois twitters sobre História do Brasil. No primeiro, comemorou a criação das capitanias hereditárias no reinado de d. João III, em 1532[3], afirmando que “o país nascia pelo empreendedorismo que o faria um dos maiores do mundo. É hora de resgatar o melhor de nossas origens”. No segundo, afirmou que “donatários, bandeirantes, senhores e mestres do açúcar, canoeiros, tropeiros, com suas mulheres e famílias, fizeram o Brasil. Só um povo empreendedor constrói um país dessas dimensões que segue o destino manifesto de ser a maior democracia liberal do Hemisfério Sul” (grifos nossos).
Essas declarações, nas redes sociais, são emblemáticas de dois movimentos intimamente relacionados e que estão no centro político do bolsonarismo, aqui entendido como um fenômeno de massa cunhado pela extrema direita. O primeiro movimento diz respeito ao revisionismo histórico como um fenômeno central dos governos de centro-direita, para além de nossas fronteiras, mas que, no Brasil, adquire estatuto de negacionismo histórico e tem embasado o discurso do governo de “um capitão entre generais”, na feliz expressão do pesquisador William Nozaki para designar o projeto de destruição e desnacionalização do Estado brasileiro. O segundo movimento diz respeito à estratégia desse revisionismo, que subtrai tensões, ignora fissuras, menospreza explorações, disfarça rupturas e atos de resistências, em nossa história, reduzindo-as à expressão unívoca e pantanosa de “marxismo cultural”, com o objetivo de a um só tempo destruir e apagar qualquer vestígio da consciência pública, que coloca em xeque os fundamentos ideológicos do poder vigente, e impor significados próprios à história para legitimar esse mesmo poder.
O general Hamilton Mourão não publicou seus twitters na última semana de setembro à toa; tampouco recorreu despretensiosamente à palavra “empreendedorismo” para designar a relação de exploração colonial portuguesa no território do Brasil desde o século XVI. Um dia antes da publicação do primeiro twitter, em 27 de setembro de 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) noticiara que a informalidade no mercado de trabalho bateu recorde, desde 2016, e representa atualmente 41,4% da população empregada no País. São 38,8 milhões de pessoas sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, autônomos sem CNPJ, atuando por conta própria, “empreendedores de si mesmos”. A sigla “Você S/A” nomeia a promessa de rentabilidade material e simbólica, concomitante com o processo de “autovalorização de si”: cada sujeito acumularia valor ilimitadamente – S -S’, nos termos de Laval e Dardot, em A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal –, através de esforço pessoal e sem contar com o amparo da seguridade social. No processo de subjetivação do capitalismo em seu momento neoliberal, a “autovalorização de si” pressupõe um movimento duplo e perverso: o apagamento das condições históricas, que colocaram o sujeito em determinada situação, e a redução da própria existência, situada num presente absoluto e sem saída (para além do próprio esforço), pois nega a história das lutas da classe trabalhadora e esvazia partidos e sindicatos, como instâncias de representação dos trabalhos formais ou informais.
Finalmente, o que implicaria aceitar a ideia de que seria louvável “resgatar” (ou seja, retroceder cinco séculos depois) “ao melhor de nossas origens” (ou melhor, celebrar o genocídio e a exploração dos povos originários ou trazidos à força da África, em nome da “conquista” e colonização)? Proclamar o revisionismo histórico como negacionismo é um dos pilares da atual política. O general Hamilton Mourão sabe que a palavra “empreendedor” deriva do termo francês entrepreneur, utilizado pela primeira vez em 1755, pelo economista irlandês Richard Cantillon, para designar o “indivíduo que assumia riscos”. Ou seja, pelo menos até o final do século XVIII não se confundiam os sentidos de empresa e empreendimento; é ainda menos aceitável atribuir a etiqueta empreendedorismo (como alardeado desde o final do século XX) ao processo de rapinagem da água e do solo, simultaneamente ao massacre, tráfico e escravização de índios e negros.
Por um lado, a chegada dos portugueses e o início da exploração do território do Brasil envolveu riscos: a incerta (e insalubre) travessia por mar; o contato, nem sempre pacífico (e quase nunca pacificador), com os povos originários; os limites de exploração e domínio, impostos pela dimensão territorial; a necessidade de mão de obra (compulsória) para o estabelecimento de feitorias e, mais tarde, a instalação de engenhos, etc.
Porém, faltou ao vice-presidente mencionar que as capitanias hereditárias foram doações régias em contrapartida pelos serviços prestados em Portugal, e em outros domínios ultramarinos, a fidalgos da Casa Real, conforme demonstra Ronald Raminelli, em Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Também faltou observar que “A invariável orientação do régio conselho, que presidia as resoluções da monarquia, jamais se afastou da regra de auferir o máximo das colônias e nelas despender o mínimo”, como mostrou Almeida Prado, em São Vicente e as capitanias do sul do Brasil: as origens (1501-1531).
Luiz Felipe de Alencastro, em O trato dos viventes, mostrou que, dos 12 capitães donatários, seis nunca vieram ao Brasil; dois abriram mão das doações; e outros voltaram para Portugal. Como observa Pedro Puntoni, apenas duas capitanias foram relativamente bem-sucedidas[4], devido ao grau de violência com que aprisionaram indígenas, utilizados compulsoriamente como mão de obra; dois capitães não conseguiram efetivar a exploração do território, frente à resistência indígena à escravidão. Constatado o fracasso das capitanias hereditárias, a Coroa portuguesa instituiu o Governo Geral na capitania da Bahia, com a chegada de Tomé de Sousa, em 1548, que trazia ordens expressas (em Regimento daquele ano) para punir severamente os líderes das resistências indígenas; replicar a cadeia burocrática da sede reinol; construir engenhos e, o mais importante: obter mão de obra para obter superlucro com a exportação da cana-de-açúcar.
Daí para a escravidão de africanos e africanas, trazidos(as) à força pelo tráfico para o trabalho compulsório ao lado dos indígenas, nos engenhos das capitanias do território do Brasil, foi um pulo. Portanto, é difícil sustentar que o território teria sido construído por “donatários, bandeirantes, senhores e mestres do açúcar, canoeiros, tropeiros, com suas mulheres e famílias”. Além de desconsiderar que o Brasil, como país, não existia antes da outorga de 1824, o vice-presidente pressupõe haver relações de igualdade entre quem mandava e quem trabalhava, em uma sociedade fundamentalmente desigual como a do Antigo Regime, vigente em Portugal. Para além dos dados fartamente documentados, que remontam ao século XVI, o Brasil de hoje está longe de ser o maior exemplo de democracia liberal no Hemisfério Sul, em razão do Golpe Parlamentar de 2016 e dos constantes ataques ao Estado de direito e ao bem-estar social. Por outro lado, e apesar disso, o Brasil ainda é, sem dúvida, o maior país da América do Sul: nação cuja unidade foi construída por meio do consenso entre os poderes locais em torno da escravidão como um projeto de Estado no século XIX.
Outro aspecto a ser considerado: o Estado brasileiro não teve início comparável com a atuação de uma grande estatal, séculos depois. Tratava-se de um Estado patrimonialista, típico em sociedades modernas, assinalado pela escravidão estrutural, como variável determinante que lhe conferia especificidade. O escravismo, no Antigo Regime dos trópicos, conferiu cores próprias ao processo de formação da burocracia após a dominação do território brasileiro: a titulação de terras dos senhores donos de escravos, e que ocuparam postos na governança local, se deu a partir de um reinado europeu do Antigo Regime. Não se obedecia a uma ordem racional legal; havia cores próprias a uma racionalidade legal, sobretudo após a promulgação dos Regimentos, o que nos levaria a repensar a denominação dada aos “conquistadores” que ocuparam o território desde o início da exploração colonial – a maioria proveniente da pequena fidalguia portuguesa, no processo de formação do Estado brasileiro.
Historiadores que se ocupam do tema têm demonstrado que a ocupação e a “conquista” da América engendravam possibilidades de ampliação do cabedal econômico, social, político e simbólico. Os domínios ultramarinos, sobretudo o território do Brasil, representavam para um punhado de homens a possibilidade de se tornarem “nobres da terra”, graças ao escravismo e à manutenção de monopólios, enquanto exerciam o mando sobre homens e mulheres, e, por assim dizer, capitaneavam a própria burocracia, a fundir lei, execução e mando, invariavelmente, em benefício próprio e com desprezo no trato dos demais viventes.
[1] “A decolonização é, verdadeiramente, [a] criação de novos homens”.
[2] “A revista […] foi fundada para promover uma nova espécie de história e continua, ainda hoje, a encorajar inovações. […] Em sua primeira fase, de 1920 a 1945, caracterizou-se por ser pequeno, radical e subversivo, conduzindo uma guerra de guerrilhas contra a história tradicional, a história política e a história dos eventos” (Peter Burke, A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia).
[3] Martim Afonso de Sousa “desembarcando a 22 de janeiro de 1532, dia de S. Vicente, mártir, encetou a sua empresa administrativa propriamente dita, fundando a Vila de S. Vicente, a primeira capital que teve o Brasil” (Max Fleuiss, História administrativa do Brasil). “A tomada de La Pèlerine, a feitoria francesa fundada em Pernambuco, notícias de preparativos para fundarem-se outras, espancaram finalmente a inércia real. Escrevendo a Martim Afonso de Sousa a 28 de setembro de 32, anuncia-lhe el-rei a resolução de demarcar a costa, de Pernambuco ao rio da Prata, e doá-la em capitanias de cinquenta léguas; a de Martim teria cem; seu irmão Pero Lopes seria um dos donatários” (Capistrano de Abreu, Capítulos de história colonial – 1500-1800).
[4] “Como se sabe, tal modelo pouco funcionou – com algumas exceções, entre elas Pernambuco e São Vicente. Naqueles anos 40, a ideia de um governo geral foi a resposta à percepção de que o domínio português corria perigo” (Puntoni, O Estado do Brasil: poder e política na Bahia colonial – 1548-1700). Maria Hilda Paraíso, no ensaio Revoltas indígenas, a criação do Governo Geral e o Regimento de 1548, evidencia que a criação do governo geral ocorreu, sobretudo, para conter as inúmeras revoltas indígenas que “inviabilizavam” a exploração do território e sua gente.