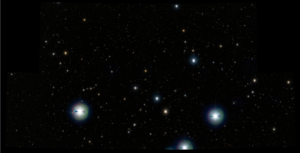.

Até usei a alegoria, que ouvi numa conferência na Protap, na FEA, de que é como a pesquisa pura preencher de conhecimento um “tanque”, no qual quem estiver interessado em aplicação achará a informação que necessita e lhe será útil. O olhar dela me deixou na dúvida se a convenci.
O incidente, porém, me fez desconfiar de que há uma falha ou omissão na comunicação entre os cientistas da academia e a sociedade. Os cientistas esperam que a sociedade os avalie com base nos mesmos valores que eles usam para se julgar, classificar a si mesmos. Sobretudo com a contagem de artigos científicos e o número de citações por outros cientistas.
Mas, para o cidadão, tanto faz que o pesquisador tenha publicado um, dois, dez ou cinquenta artigos por ano e que tenha sido citado mil, cem, dez ou nenhuma vez. O cidadão, a sociedade, esperam, entendem resultados que lhes sejam úteis.
Tampouco ajuda no diálogo com a sociedade a arrogância com que alguns cientistas, burocratas e sociedades científicas se manifestaram na mídia em assuntos atraentes ao interesse coletivo, como a segurança dos transgênicos, a questão da fosfoetanolamina na cura do câncer e as cotas raciais e sociais nas universidades públicas.
Pensando nas características e particularidades da instituição na qual percorri minha carreira e em consequência das considerações induzidas pela dúvida da funcionária, propus, em nível de conversas informais nos anos 90, que o IQ poderia criar o terceiro departamento, de vocação mais aplicada, que se devotaria à pesquisa aplicada e em que as regras de ascensão na carreira seriam as adequadas, uma vez que trabalhos práticos, orientados a problemas nacionais e locais, não teriam publicação fácil ou citações em grande número, decepcionando, portanto, a burocracia que cada vez mais se orientava pela quantidade.
Sem isso, ninguém desejoso de percorrer a carreira se devotaria a trabalho que não rendesse os títulos exigidos nos concursos de ascensão. Acreditava eu que a interação com a sociedade e o setor produtivo garantiria a aceitação da pesquisa dita pura, cujos benefícios e valor não eram tão evidentes aos “leigos”. Cada docente-pesquisador atuaria conforme seu talento. Cedo desisti da proposta, pois foi recusada com ênfase, ou por não ter sido compreendida sua importância, ou porque complicaria o jogo de poder na instituição.
Mas, para o cidadão, tanto faz que o pesquisador tenha publicado um, dois, dez ou cinquenta artigos por ano e que tenha sido citado mil, cem, dez ou nenhuma vez. O cidadão, a sociedade, esperam, entendem resultados que lhes sejam úteis.
Mas os cientistas brasileiros, sobretudo os das universidades, enfrentam um problema adicional. Nos tempos mais recentes os burocratas e os esnobes da ciência estão lhes impondo exigências contrastantes. De um lado, exigem-lhes criatividade, por outro, maior número de artigos publicados.
Isso me faz recordar de um dos grandes químicos que conheci, o professor Pavel Krumholz, polonês, judeu, formado na Áustria – talvez três razões para ser desconfiado -, me aconselhando que na surdina repetisse alguns experimentos dos meus orientados, recalculasse os resultados, coisa que ele fazia com sua régua de cálculo de meio metro. Meticuloso e rigoroso, seus artigos levavam meses para ser escritos (e reescritos) e remetidos a uma revista científica considerada de boa qualidade.
A publicação de um paper era um evento. Sem aderir inteiramente a essa desconfiança, pergunto-me quantos artigos científicos sérios e significativos um cientista pode escrever/publicar por ano, seguindo critérios rigorosos. É verdade que o número de colaboradores orientados por um único pesquisador cresceu, mas, isso, em vez de facilitar a produção de artigos, implica maior tempo investido em instruir os estudantes, supervisionar os experimentos, participar da análise dos resultados e discutir a redação (observa-se que para muitos alunos, a redação precisa, coerente e ordenada é algo ainda a ser aprendido).
Pergunta importante, nessa época em que os burocratas da ciência – alguns dos quais até com experiência em pesquisa – acham que dois artigos anuais, por exemplo, é pouco: quantos artigos lhes pareceriam número satisfatório?
A formação de cientistas requer uma assistência intensa, acompanhamento constante. Desde o treinamento experimental e na interpretação dos dados até a redação final de uma dissertação, tese ou artigo. Ao mesmo tempo, há a leitura das numerosas publicações referentes ao assunto estudado, pois acompanhar o progresso global é essencial. Se o cientista for da universidade, terá, ainda, de preparar aulas de graduação, pós-graduação, ministrá-las, além de corrigir provas.
Mas os cientistas brasileiros, sobretudo os das universidades, enfrentam um problema adicional. Nos tempos mais recentes os burocratas e os esnobes da ciência estão lhes impondo exigências contrastantes. De um lado, exigem-lhes criatividade, por outro, maior número de artigos publicados.
Isto sem contar as reuniões das quais é obrigado a participar se for de alguma comissão. É claro que ele não pode se esquivar dessas atividades. Contudo, a qualidade de suas aulas, a devoção a uma ciência séria não são levadas em consideração nas avaliações externas à unidade. Paper é o que mais importa.
Outro critério de “excelência”, apresentado como se fosse novidade e meta a ser alcançada, é a “internacionalização”, assunto retomado diversas vezes, inclusive pela grande imprensa. Recentemente tentei, sem sucesso, que um jornal publicasse uma complementação a considerações publicadas por um professor da USP. A matéria “Por que não atingimos a classe mundial” (OESP, 22/11/2017, p. A2) é pessimista, pois a USP há décadas é uma universidade de classe mundial.
Já em seus primórdios contou com a participação e colaboração de número considerável de professores-cientistas de origem europeia. O intercâmbio com universidades norte-americanas e europeias não é novidade. E não são poucos os cientistas estrangeiros que demonstraram interesse em permanecer em nosso país, e não só do cone sur. O número de artigos científicos significativos, publicados em revistas de reconhecida importância vem crescendo, pelo menos, desde os anos cinquenta.
Nem sequer a ditadura, com as dificuldades de importação, inibiu a atividade científica; nem a grande perda de tempo com a discussão de assessores anônimos (na verdade ocultos) de cujos pareceres, opiniões ou humor depende a consecução de auxílio para os projetos de pesquisa, embora as verbas sejam públicas. Há na matéria pontos que mereceriam debate mais amplo.
Segundo o autor, “quem tem mérito – e representa os interesses e anseios da sociedade” é quem deveria indicar os dirigentes da Universidade. Concordo, porém, pergunto: quem define os critérios que conferem o mérito, os cientistas ou os burocratas da ciência? Quem diz quais são os interesses e os anseios da sociedade? A sociedade ou os burocratas?
E se for a sociedade – como seria lógico –, por que o autor questiona o interesse manifestado por sindicalistas e outros segmentos em contribuir na escolha de assuntos de investigação científica? O jornal bem faria se abrisse o espaço para visões diferentes, inclusive para os sindicatos.
Minha carta refletia em suas respostas e perguntas a imagem falsa das nossas universidades públicas que é alimentada pela imprensa, frequentemente, com matéria da autoria de acadêmicos. Mas a verdade é que o “produtivismo”, imposto pelos burocratas da ciência, é uma ameaça à ciência séria e a inundação de papers arrastará artigos inúteis ou mesmo inconfiáveis. Não é à toa que cada vez mais as questões éticas na atividade acadêmica e científica proliferam.
.