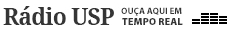ESPECIAL CONSCIÊNCIA NEGRA
História africana ainda encontra resistência em descolonizar os currículos escolares
Na prática, a maior dificuldade se dá no processo de formação dos professores, que carrega marcas de um pensamento colonial

Fotomontagem de Jornal da USP com imagens do livro África e Brasil africano
A maioria da população brasileira é negra. É um fato! Afinal, mais de 56% se autodeclara negra. Contudo, no que se refere à ampliação de uma educação, de fato, antirracista ainda é um trabalho contínuo. A Lei 10.639 representou um avanço quanto a isso. Sancionada em 2003, essa medida torna obrigatório possibilitar o conhecimento de uma parte da história que nem sempre nos foi contada: a história e a cultura afro-brasileira.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, e cria a obrigatoriedade de inclusão desses conteúdos nos currículos de estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Além disso, inclui no calendário escolar uma data que simboliza a conquista dos movimentos negros populares: o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro.
De acordo com a professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, Marina Souza, a efetividade da Lei 10.639/03 é um processo contínuo. Ela destaca a necessidade em descolonizar os currículos escolares nas universidades, unidades de ensino que formam muitos dos professores que atuam na educação básica. “O Departamento de História da USP tornou o ensino de História da África uma disciplina obrigatória desde 1998. Eu e mais duas professoras que ministrávamos a disciplina tínhamos consciência de que precisaria tratar de África na formação dos estudantes de graduação antes mesmo da lei existir, conquista obtida a partir da pressão popular do movimento negro alguns anos depois”, diz a professora.

Marina Souza - Foto: Arquivo pessoal
Marina relata que é preciso compreender quão retrógrada é a ideia de contar apenas uma única história: a conhecida visão dos colonizadores europeus. Ela pontua que “a Universidade demorou para perceber o quanto intelectuais negros estavam ausentes na bibliografia dos conteúdos que ministrávamos. O próprio mercado editorial não reconhecia o trabalho dessas pessoas. Embora ainda falte muito a se fazer, aos poucos temos mostrado outras visões de interpretar a realidade, que não somente aquela narrada por pessoas brancas.”
Didática inter-racial
Hoje em dia, mais pessoas sabem o que é a Lei 10.639 e sua importância. “As pessoas conhecem a legislação. Não é mais uma novidade que a lei existe”, afirma Míghian Danae, doutora em Educação pela USP, professora da Unilab e autora da tese de doutorado intitulada Mandingas da Infância: as culturas das crianças pequenas na escola municipal Malê Debalê em Itapuã, Salvador (BA). Para ela, no entanto, mesmo com quase 20 anos de existência, ainda faltam informações sobre como inserir essa temática na grade curricular escolar. “A gente tem materiais diversos, vídeos, documentários, literatura, canais etc., mas as pessoas ainda se perguntam como pegar essa lei e incluir no currículo”, ressalta a pesquisadora.
A sugestão de Míghian Danae para minimizar esse problema é trazer a perspectiva de pesquisadores negros para tratar dos conteúdos em aula. “Em todas as áreas, na física, química, história etc., nós temos expoentes negros que produziram ciência. Então, por que não falar deles? Para que os estudantes entendam que a produção científica não está limitada a um grupo racial”, afirma a pesquisadora.
A indicação feita por Danae se encontra no Artigo 3º, parágrafo 2º, do Parecer CNE/CP 003/2004, de 10 de março de 2004, que complementa a Lei 10.639:
- 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, meio privilegiado para a educação das relações étnico-raciais, tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.
Assim como a pesquisadora, Eduardo Januário acredita que o ensino étnico-racial pode ser feito em meio ao conteúdo das disciplinas escolares. “Para você falar de matemática, você não tem que partir da história da filosofia europeia, você tem que contemplar também como a matemática se deu na realidade indígena e dos povos de origem afrodescendente”, explica o professor da Faculdade de Educação (FE) da USP e integrante do Fateliku – Grupo de Pesquisa sobre educação, relações étnicos-raciais, gênero e religião da USP. Além disso, durante sua experiência como diretor de escola, Januário mantinha outros métodos de representatividade negra, como trazer grafites para o muro da escola, permitir o uso livre de vestimenta dos alunos para incentivar a formação de identidade e, ainda, tocar rap, funk, hip hop e samba nos intervalos de aula. “No dia 7 de setembro [Dia da Independência do Brasil], a gente saía com os instrumentos da fanfarra tocando samba”, conta o pesquisador ao Jornal da USP

Eduardo Januário - Foto: Reprodução/Sites-USP
Além da dificuldade dos educadores em inserir a pauta étnico-racial nas aulas, outra questão que impede a aplicabilidade da lei é a deficiência de materiais que sustentem a abordagem desses conteúdos na educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio). “Já existia o material teórico. O que não tinha era material para a sala de aula, para o dia a dia do professor de educação básica”, comenta Míghian. “Existiam algumas apostilas e livros que fomentavam essa discussão, mas na escola isso não chegava. Apenas nas academias e universidades”, explica Januário. O pesquisador conta que, na FE, todos os cursos de licenciatura têm a disciplina obrigatória Cultura Negra e Africana, com o professor Rosenilton de Oliveira.
Muitos materiais didáticos continham incoerências que dificultavam a discussão da cultura afro-brasileira e africana. “Começou-se a produzir muito material, mas nem todos tinham qualidade”, lamenta a professora da Unilab. Ao Jornal da USP, Míghian explica que essa produção inadequada contém ilustrações descuidadas de personagens negros ou didáticas que pouco abordam a história afro-brasileira e africana. Para diminuir a circulação desse tipo de produção, em meados de 2018, Míghian e outros pesquisadores começaram a desenvolver selos de qualidade, qualificando os materiais que circulavam. Mas essa iniciativa ainda não foi ampliada nacionalmente.
Com o objetivo de se distanciar de materiais impróprios e inacessíveis, a professora Míghian desenvolveu, junto a outros colaboradores, e-books gratuitos chamados Catálogo de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, disponível neste link, e Na escola se brinca! Brincadeiras das crianças quilombolas na educação infantil, neste link.
Além disso, a pesquisadora em Sociologia na USP, Flávia Rios, promove em seu projeto Gestão municipal da igualdade racial e políticas inclusivas de educação e trabalho no município de Niterói: estudos e ações para sua implementação, na Universidade Federal Fluminense (UFF), cursos e formações para servidores públicos em 92 escolas municipais, além de disponibilizá-los em sua plataforma digital. “A aplicação dessa lei demanda esforços institucionais permanentes, porque são formações que não podem ser cíclicas ou episódicas. Todo ano, o professor precisa saber de material novo, participar de reuniões sobre a questão do racismo, ter uma formação especializada na sua área, saber a contribuição recente de um determinado livro, ter um conceito novo e uma referência bibliográfica etc.”, afirma a pesquisadora.
Para além de uma única história
O conteúdo programático determinado pela lei federal inclui o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Para Marina, é a partir dessa mudança na mentalidade colonial que conseguiremos combater o racismo nas escolas e na sociedade brasileira.
“A gente tem que ler outros autores, a gente tem que conhecer as outras filosofias e as outras maneiras de pensar que não sejam as convencionais, tradicionais, que são as do mundo ocidental eurocentrado. Ainda é um esforço individual das pessoas que tentam mudar o ambiente a sua volta e questionar essa visão única da história”, complementa a professora, que ressalta a necessidade de ultrapassar um único modo em explicar o mundo.
A inaplicabilidade da lei se dá, sobretudo, pela formação dos professores, de acordo com Marina. Um processo que reproduz a perspectiva do negro como um sujeito reconhecido apenas pelo processo escravocrata, e não como protagonista na luta por liberdade.
O ensino de história afro-brasileira diz também sobre nossa identidade enquanto sociedade. Contudo, a professora acredita que essa é uma marca que a colonização nos deixou como legado. “Já fomos portugueses, franceses, holandeses, só nunca fomos brasileiros”, destaca. O ensino desses conteúdos, sobretudo, deve ultrapassar a visão utilitarista da educação. O ensino de história, de acordo com Marina, pode ser uma ferramenta de emancipação, como também permite perpetuar processos de dominação.
E é justamente aí que entra o papel dos profissionais de educação. “É a partir dessas pessoas que poderemos, então, retirar do imaginário da sociedade que o negro não pode ser protagonista. Poderemos reconstruir o discurso e questionar o mito da democracia racial, teoria que afirma que o Brasil possui harmonia entre as raças formadoras do País”, afirma.
Ganhadora do 49º Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Livro Didático e Paradidático de Ensino Fundamental ou Médio, com África e Brasil africano, Marina acredita que a Lei 10.639/03 encontra, ainda, alguns obstáculos para que possa ser ampliada: a resistência de um sistema social marcado pelo racismo e pela intolerância religiosa, fruto da nossa história autoritária. Atualmente a professora atua no Centro de Estudos Africanos (CEA) da USP e é membra do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Brasil-África.

Em África e Brasil Africano, Marina apresenta o continente africano, de fato, como é: multicultural e protagonizado por diferentes povos contidos em 54 países - Foto: Reprodução/África e Brasil Africano
Aparato governamental
A execução da Lei 10.639 pode mudar de acordo com a governança do País, dado à atenção que os representantes políticos destinam à pauta racial. “Os governos vão auditar muito como o conteúdo étnico-racial vai chegar às redes de educação”, observa Míghian.
Em 2014, a Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou os cursos Etnomatemática e Introdução à Educação para as Relações Étnico-Raciais, para preparar profissionais da educação, em diversas disciplinas, à temática das desigualdades raciais presentes na sociedade brasileira e no ambiente escolar. “Com o tempo, as figuras políticas foram entendendo que a temática racial era transversal e tinha que passar por todas as matérias, que tinha de ter formação continuada de todos os professores e que envolvia valores, atitudes, comportamento, material didático, conteúdos específicos disciplinares também para todas as disciplinas”, afirma Flávia.
Porém, os subsídios para financiar a produção dos materiais necessários à aplicabilidade da Lei 10.369 ainda impossibilitam sua perfeita execução. “O problema que a gente sentia era a falta de dinheiro público para formar os professores. Você solicitava ao município e ele dizia que tinha outras formações a fazer”, afirma Januário. “A lei existia, mas na prática, não havia fomento para a sua aplicação direta”, complementa.
Em sua pesquisa do pós-doutorado, e parte do artigo Política de combate à desigualdade racial e política educacional, Cidade de São Paulo – 2004-2018, publicado na revista Parlamento e Sociedade, Januário faz uma análise histórica, de 2004 a 2018, das despesas públicas destinadas a políticas educacionais para a desigualdade racial. A conclusão obtida foi: “Houve momentos de maior preocupação orçamentária dessa lei, então professores recebiam mais livros didáticos. Agora, a partir de 2016, houve um retrocesso. Você não tem mais um núcleo de educação étnico-racial agindo da mesma maneira”.

Flávia Rios - Foto: Arquivo pessoal
Nesse sentido, o ensino em escolas particulares, em razão de sua verba não vir de dinheiro público, pode possibilitar mais ações de combate à desigualdade racial. “Com certeza, isso varia de escola pública para privada, pensando que eles tenham dinheiro partindo de outro lugar para poder fazer esse tipo de trabalho”, observa Januário. Porém, a pauta se faz menos presente na escola privada devido ao corpo estudantil. “Em seu corpo estudantil, as escolas particulares dão pouca atenção a essa abordagem porque têm poucos negros. Então, há o discurso de que não precisa”, complementa.
A implementação da Lei 10.639 se dá como grande aparato às relações humanas, para estimular o respeito às diferenças. “Para mim, a educação das relações étnico-raciais é a educação para aprender a viver junto, em um país multirracial, como o Brasil, que tem um passado de escravização”, aponta Míghian. “Isso é uma tarefa muito difícil e a gente está chamando a escola, que é uma instituição nomeadamente democrática, para colaborar com a gente nisso”, complementa.
Na perspectiva de Januário, o combate à desigualdade racial poderia ser mais efetivo se tivessem mais professores negros dentro das escolas e das universidades. “É primordial. Por isso, eu acredito nas políticas afirmativas, nas cotas para concursos públicos e nas universidades públicas”, afirma o pesquisador. “Quando você tem indígenas e negros dentro da universidade, obviamente você vai ter mais pesquisas e mais fomento, possibilitando a formação de diretores negros, supervisores negros etc.”, complementa.
Além disso, o professor ressalta o apoio à diversidade brasileira a partir do cumprimento da lei. “A única possibilidade de se fazer ou se falar de história do Brasil é incluindo e cumprindo a Lei 10.639”, afirma Januário. “É a única possibilidade de ter uma nação e não ser somente um aglomerado de pessoas. Para criar uma identidade, de fato, é necessário ter a história de todos os povos. Simples assim”, complementa o pesquisador.
O papel dos sujeitos brancos
Em 2018, a professora Denise Carreira, da Faculdade de Educação (FE) da USP, publicou artigo chamado O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista, para propor um maior engajamento de pessoas brancas na luta antirracista. “Para enfrentar o racismo, a gente precisa de uma branquitude engajada nessa desconstrução, porque quem sustenta o racismo é a branquitude”, afirma a professora.
Muitas vezes, os crimes de racismo advêm de um desconhecimento da diversidade humana. “As pessoas brancas que não têm contato com a temática étnico-racial se dão pouca oportunidade de conhecer como se dá essa diferença. Então, quando você chega lá, dizendo essa importância, a pessoa até questiona se isso é mesmo importante, se ela fazendo isso não vai tratar um negro como diferente e que não precisa de cotas porque todos somos iguais. Essa conversa ainda existe”, explica Januário.

Denise Carreira - Foto: Reprodução/Twitter
“Nós, pessoas brancas, não somos educadas para ler o racismo, porque ele acontece não só por meio de xingamentos e apelidos pejorativos, mas também pelo silêncio e pela omissão”, observa Denise. “Então, a Lei 10.639 é fundamental, não só como uma lei de reparação à população negra, mas para reeducar a população branca para um mundo antirracista”, complementa.
Portanto, a luta por uma educação democrática das relações étnico-raciais, assim como o respeito à diversidade racial, precisa da contribuição de todos, negros e brancos. “É muito importante que essa legislação apareça no escopo político brasileiro, porque ela tem esse efeito, de impedir que certos valores discriminatórios, não só do racismo fenotípico, mas também do racismo cultural e religioso, não se proliferem nas instituições educacionais brasileiras”, diz Flávia.
Já para Marina, embora, hoje, o mercado editorial possa contribuir com o avanço da valorização de intelectuais negros, como Abdias do Nascimento, Silvio Almeida, Djamilla Ribeiro, Lélia Gonzaléz, ainda, há um epistemícidio em curso. Marcado pelo apagamento das contribuições de pessoas negras, o epistemicídio negro impede ultrapassar uma única visão de história eurocêntrica enraizada no Brasil, último país do mundo a abolir a escravidão.
“A própria Djamila Ribeiro publicou o livro ‘Cartas para a minha avó‘, no qual relata os desafios de ser uma criança negra na sociedade brasileira. Eu não! Sou uma pessoa branca. Mas à medida que você vai vendo esses depoimentos, você vai tomando conhecimento do que é uma criança negra na sociedade brasileira. É de arrepiar os cabelos. Qualquer pessoa minimamente sensível vai ficar alerta aos riscos que o racismo traz: o massacre psicológico sofrido por uma pessoa, o bullying, o xingamento e a caracterização negativa daqueles aspectos físicos e culturais das pessoas negras”, lembra Marina Souza.
Leia também
A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.