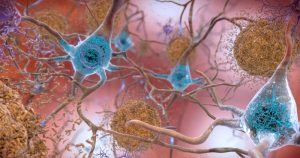A marca do tempo atual é a instabilidade. Em meio a múltiplas crises, a despeito de o Estado protagonizar uma delas, a necessidade de ação coletiva requer a renovação de sua capacidade de agir. A questão é como revitalizar os padrões da construção histórica do Estado social, que inspiram o presente por terem sido gerados em momentos de guerra e crise profunda.
O ceticismo se deve ao fato de que a marca do Estado social é a concertação política, econômica e social, escassa em tempos de polarização. Ela não se coaduna com o pensamento conservador anti-Estado, mais antigo que o neoliberalismo e reforçado por ele, que acusa o Estado de criar privilégios. De outro lado, o pensamento revolucionário de esquerda também refuta a ideia de compromisso, que desvia a luta social do único caminho aceitável, a mudança estrutural, gerando ainda mais concessões à burguesia. É preciso se contrapor a ambas as correntes de ceticismo e defender a reconstrução do Estado social, indispensável para o enfrentamento da desagregação das sociedades atuais.
O Estado social surgiu historicamente em situações de crise, guerra, depressão econômica, em todas elas com um sentido progressista, de recuperação da coesão das sociedades esgarçadas pelos traumas, valorizando a dimensão coletiva e os direitos humanos. Nenhuma de suas experiências foi produto da natureza ou do acaso histórico; trata-se, na expressão de Bresser-Pereira, da “mais notável realização de engenharia ou de construção política”, edificação que tem pelo menos três marcas:
(1) foi produzida no bojo de lutas políticas, nunca esteve dada de antemão;
(2) posições vitoriosas nas disputas resultaram da capacidade de criar consenso em torno de certas ideias condutoras;
(3) o direito teve um papel importante em organizar os processos que transformaram essas ideias em práticas institucionalizadas, assim como em modelar as práticas em si, incorporando nelas valores de justiça social, compromisso democrático e direitos fundamentais. Isso foi o que rompeu o desalento resultante de escolhas políticas desastrosas.
Somos inclinados a ver os sofrimentos presentes como ameaças inéditas, mas a consideração dos riscos concretos do passado – os riscos de destruição nuclear na Guerra Fria ou a expansão dos totalitarismos nazista, fascista e stalinista no começo do século 20 – oferece uma perspectiva menos subjetiva. Se aquele tempo foi capaz de produzir coalizões na sociedade e forjar inovações políticas e jurídicas para frear essas ameaças, essa possibilidade não só não deve ser descartada no presente, como deve servir de norte para disputar ativamente os rumos do futuro. Para essa reflexão, é útil pensar sobre as inflexões nos processos de ascensão e declínio do Estado social, para o quê proponho os principais marcos na cronologia que segue, dividida em seis períodos:
| Período | (datas aproximadas) |
| 1º) Primórdios | 1848 até a Primeira Guerra Mundial |
| 2º) Emergência | Entreguerras |
| 3º) Ápice | Pós-Segunda Guerra Mundial |
| 4º) Declínio | Anos 1980- crise de 2008 |
| 5º) Agravamento da crise | 2008- até a pandemia de 2020 |
| 6º) Reconstrução | Pós-pandemia |
1º período. Primórdios: 1848 até a Primeira Guerra
O marco inicial é a publicação do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, de 1848, que conclama os trabalhadores a se organizarem, inclusive no plano internacional. Nesse período tomarão forma as organizações de trabalhadores em sindicatos, partidos e nas internacionais, que terão protagonismo crescente nas disputas políticas, inclusive nas instituições representativas burguesas, como os Parlamentos, tendo influenciado movimentos trabalhistas na Inglaterra, na Alemanha e na França, entre outros. Na fase inicial, a formação do Estado social pode ser identificada em quatro fatores:
(1) organização dos trabalhadores;
(2) “Primavera dos povos”;
(3) textos constitucionais com disposições tratando da igualdade ou de direitos explicitamente relacionados à proteção do trabalho e dos trabalhadores;
(4) início da legislação sobre acidentes do trabalho, seguro-desemprego e matérias afins, de interesse dos trabalhadores.
2º período. Emergência: Entreguerras
A Primeira Guerra Mundial provoca um abalo profundo nas estruturas políticas existentes até então. Começa a se desenhar uma nova ordem, que embora não vá durar muito tempo, dada a eclosão da Segunda Guerra cerca de trinta anos depois (que muitos consideram uma continuidade da Primeira), indica o início de uma evolução institucional que se consolidará no período seguinte. O potencial destrutivo do capitalismo mostra seu alcance com a crise de 1929, que se segue ao florescimento agressivo das indústrias nos EUA, em especial a automobilística, mas também a siderúrgica e a implantação das ferrovias. A intervenção estatal se consolida depois da criação das primeiras agências reguladoras, para frear as práticas dos “barões ladrões”, iniciando-se a fórmula do capitalismo regulado. As marcas desse período são:
(1) Constituições sociais, como a do México (1917) e a da Alemanha (Weimar, 1919);
(2) surgimento das primeiras organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho (1919) e a malograda Liga das Nações;
(3) Revolução Russa, formação da URSS e experiências de economia planejada;
(4) Crise de 1929 e New Deal (EUA, anos 1930), com programas patrocinados e financiados pelo governo, como a construção de infraestrutura (represas, estradas, ferrovias etc.).
3º período. Ápice: Pós-Segunda Guerra Mundial
O período de auge do welfare state nos países europeus hoje desenvolvidos nem sempre é associado à sua origem na Europa devastada pela guerra. Características desse período são:
(1) crescimento da industrialização, ciclo de pujança econômica, com participação dos sindicatos nas negociações entre capital e trabalho e o início da integração europeia e seus programas de ação;
(2) serviços sociais de caráter universal nos países europeus;
(3) criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e seu sistema de organizações;
(4) criação dos Tribunais Constitucionais para controle do cumprimento das normas inscritas nas Constituições, no âmbito nacional.
4º período. Declínio: Anos 1980 até a crise de 2008
Os “trinta anos gloriosos” se encerram com os choques do petróleo, em 1973 e 1979, provocando profunda desorganização e um período de instabilidade na economia mundial. Além disso, os EUA, sob o governo Nixon, decide em 1971, unilateralmente, esvaziar a regra cambial estabelecida pelo acordo de Bretton Woods. Os fatores mais marcantes do período são:
(1) declínio da economia industrial;
(2) neoliberalismo;
(3) queda do Muro de Berlim (1989) e colapso da URSS;
(4) em contraponto: as grandes conferências do sistema da ONU (anos 1990, até 2001), que disseminam programas de ação para direitos sociais.
5º período. Agravamento da crise: De 2008 à pandemia
O declínio do Estado social, que estava em marcha desde meados da década de 1970, se acentua vertiginosamente a partir da crise econômica de 2008, pelos seguintes fatores:
(1) crise econômica mundial de 2008;
(2) crescimento das big techs;
(3) ascensão das democracias iliberais, nos anos 2010;
(4) pandemia de covid-19 (2020-22); e
(5) emergência climática. Embora haja conexões entre eles, os fenômenos têm dinâmica própria, relativamente independente.
6º período. Reconstrução: Pós-pandemia
Traçado esse quadro, em vista do enfraquecimento das últimas décadas, caberia perguntar se é viável a reconstrução do Estado social no período que se segue à pandemia. Considerando, como demonstra a cronologia, que ele foi construído como resultado de pactos políticos, econômicos e sociais, em sucessivas ondas, em condições históricas específicas que tinham no centro a industrialização e organização dos trabalhadores, diante do declínio da indústria e do trabalho, qual seria a base para essa pretendida renovação? Em que pesem as interrogações colocadas, a profundidade das crises é de tal magnitude, que parece estar em curso um conjunto de reações, passando pela revitalização do Estado como instrumento de reerguimento econômico, de um lado, e de coesão social, de outro. Isso pode ser identificado nos seguintes fatores:
(1) alianças eleitorais para a manutenção das democracias liberais e do Estado de direito (ex. EUA, França, Brasil);
(2) grandes programas de reconstrução;
(3) pressões pela regulação do capitalismo digital;
(4) pressão por respostas efetivas à emergência climática, tais como o financiamento estatal para a transição para a economia verde;
(5) reconfiguração da geopolítica mundial.
Como dito no início, entre nós predomina o discurso anti-Estado, à direita, e profundo ceticismo, à esquerda. Se queremos superar a crença ingênua, o wishful thinking na superação dos dilemas contemporâneos pela volta do Estado, é preciso mais do que demarcar espaço político; é necessário disputar o campo das ideias e ações.
* Este texto é um extrato do artigo “Estado social: uma sistematização para pensar a reconstrução”, a ser publicado em Democracia e desenvolvimento: a vida em risco e o Estado em reação?. José Luiz Borges Horta, Jamile Bergamaschine Mata Diz, João Pedro Braga de Carvalho (orgs.) (no prelo).
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)