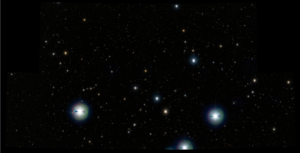Diariamente grupos de mulheres se manifestam publicamente por direitos. Saem às ruas portando cartazes onde expõem “nem mortas, nem presas”, #criança NãoÉMãe”, “o direito ao aborto seguro é um direito humano!” — frases que se referem a ações autoritárias do Estado contrarias à interrupção da gravidez.
Essas frases remontam aos escândalos noticiados pela mídia quando uma clínica é fechada pela polícia por realizar um aborto, ou quando, em 2020, a própria ministra da Mulher Damares Alves tentou intervir em um hospital onde uma menina de 11 anos, vítima de estupro, ia se submeter a um aborto legal, ou ainda, a total desobediência aos direitos civis e políticos das mulheres que decidem pela intervenção.
Embora os direitos políticos e sociais já estejam inscritos na Constituição de 1988 ou na legislação ordinária, pessoas de todas as idades se movimentam para garantir seu cumprimento. Por que os direitos humanos das mulheres são relegados, descumpridos, precisam constantemente ser reivindicados na vida coletiva? Por que o corpo da mulher não lhe pertence? Por que em pleno século 21 o corpo feminino é um “bem de uso” de alguns homens?
Proponho repensar o controle do Estado sobre decisões supostamente pessoais: estupro, violência doméstica, feminicídio, são do campo das relações individuais e pessoais, porém, são controlados através da estrutura política nas quais estão situadas.
Até a década de 1950, o Estado brasileiro estimulava o crescimento populacional para ocupação do extenso território. Na década de 1960, com a urbanização, ampliação do mercado de trabalho, e o parco conhecimento de métodos antirreprodutivos começaram a se implantar no país, à revelia da política governamental, uma redução no processo de crescimento populacional.
As mulheres procuravam diminuir o número de filhos, embora o processo tivesse consequências fatais: elevou-se a mortalidade feminina em decorrência de abortos absolutamente precários. Apesar das políticas de estado pro-natalistas, as mulheres reduziram o número de filhos, num processo irreversível.
Sem nenhum programa adequado, o aborto passou a ser o “método” mais utilizado. O poder público se somou às Igrejas cristãs proibindo-o. Ligar o aborto ao pecado foi um mecanismo pouco eficiente: 56% das católicas, 25% das evangélicas recorreram à interrupção. Dados do Observatório de Sexualidade e Política (SPW), fórum global composto de pesquisadoras/es e ativistas de vários países e regiões do mundo, mostram que uma em cada sete mulheres, aos 40 anos, já passou por aborto no Brasil e 52% delas dizem tê-lo feito com menos de 19 anos. Matéria publicada na Agência Brasil em 2023 mostra que “apesar de serem mulheres comuns, que estão em todos os lugares, há uma concentração maior no grupo das mais vulneráveis. São mulheres negras, indígenas, residentes no Norte e do Nordeste, com menor escolaridade e muito jovens”.
Em resumo a consequência é macabra: a cada dois dias morre uma mulher em consequência de abortos mal-feitos e somam dois milhões as internações hospitalares em 10 anos. Exceção, é claro, da camada de mulheres de classes mais abastadas que recorrem ao aborto em hospitais e cuidados médicos remunerados.
Desde a redemocratização os governos e a população se articularam construindo um novo diálogo. Foram criados ministérios, conselhos estaduais, municipais, secretarias, e associações nos bairros para enfrentar a violência de gênero entre outras questões. Associações médicas, psicológicas, de direito, da sociedade civil, ampliaram as ações fortalecendo as políticas públicas. Situações muito inovadoras foram elaboradas junto às polícias estaduais, às delegacias e criadas as delegacias da mulher.
A sociedade se retroalimentou e inovou, substituindo a pena prisional por processos educacionais para homens violentos. Mas o que levou décadas para ser construído foi deliberadamente desmontado em poucos anos por um governo autoritário. No campo científico, proibiram o conceito de gênero, introduziram definições falsas antepondo-se ao que a ciência desenvolve praticamente em todos os países; reduziram em 70% a verba destinada às delegacias da mulher, aos programas de orientação contra a violência de gênero, as casas abrigo, e cortaram até mesmo a verba do excelente programa de telefone de atendimento a situações de perigo de vida da mulher no Brasil e até no exterior.
Os moldes autoritários da estrutura política federal se estenderam aos estados e municípios. O estado de São Paulo elegeu um governo de igual orientação autoritária. E imediatamente iniciou um programa municipal, estadual e até mesmo federal visando as futuras eleições. Dentro de poucos meses teremos eleições municipais. Vereadores/as são futuras bases para as políticas estaduais e logo a seguir federais. Na mídia pode-se aquilatar as disputas entre os partidos, as diretrizes que serão propostas em seus programas. O que estamos nós mulheres, nós feministas, preparando para essas eleições?
A direita, no campo das mulheres, o governador de São Paulo, autoritário, substitui a secretária Estadual da Mulher, Sonaire Alves, que é antifeminista e contra as questões de gênero pela deputada estadual Valeria Bolsonaro. Esta presidiu na Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres da Alesp uma homenagem às “mulheres patriotas, que transformam o Brasil e as causas femininas, que não têm partido e ideologia”. (Lembro que essa deputada apoiou a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a covid no Estado de São Paulo). Ou seja, estão substituindo uma parlamentar que atribui o feminicídio às feministas (Sonaire) por outra parlamentar que homenageia as mulheres patriotas afirmando que estas “não tem partido nem ideologia”.
Enquanto isso nós, feministas, junto a importantes associações, estamos lutando para mostrar que é inconstitucional/ilegal a Resolução 2.378 contra o aborto, estabelecendo uma data para que seja realizado. Indiscutível a posição da Febrasco, das Católicas pelo Direito de Decidir e de mais sete ou oito organizações, mas não podemos postergar nesse momento as decisões partidárias que serão definitivas para o futuro das políticas de gênero.
Nesse momento sombrio identifico nas palavras de Ruy Castro, no artigo a A ameaça – ainda – sem nome, o sentimento que me assombra: trata-se do avanço da “extrema direita, do populismo, do nacionalismo, do discurso moral e religioso”, do desprezo pelos partidos políticos, do negacionismo, da rejeição as teses identitárias, mas também da “xenofobia, do repúdio aos imigrantes e do racismo”. E que ele me permita acrescentar: do antissemitismo.
Ainda é tempo! Temos de resgatar os valores democráticos e propor uma plataforma igualitária e feminista.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)