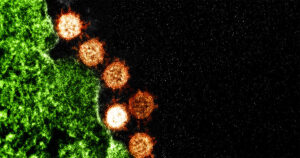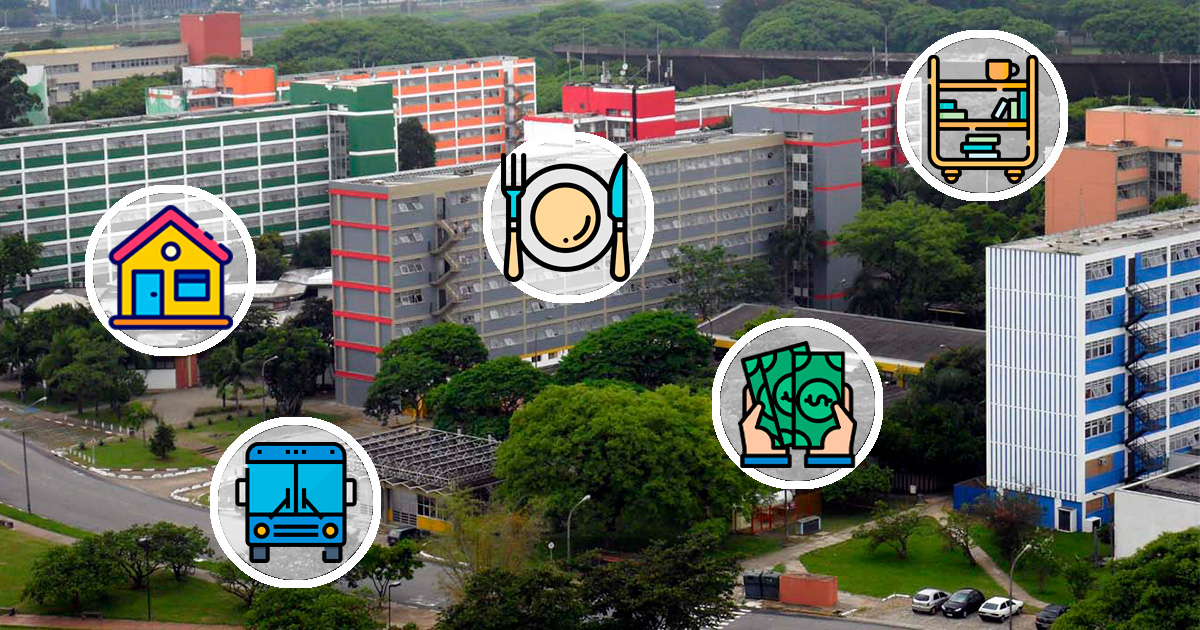Blog
Revista USP leva a sério gêneros literários marginalizados
Disponível na internet, publicação gratuita traz dossiê com artigos sobre livros classificados como literatura de massa, comercial e de entretenimento, entre outros rótulos
“Bastaria considerar a riqueza dos cenários imaginados pelos escritores, a complexidade das personagens que criaram, os artifícios empregados pelos seus narradores etc. para desconfiarmos que determinados rótulos não comprometem a qualidade literária nem inviabilizam a composição de tramas de elevado alcance, capazes não somente de entreter, mas de estimular outras formas de reflexão sobre nosso tempo e lugar”, escreve Jean Pierre Chauvin na apresentação do dossiê Literatura de Entretenimento, publicado na nova edição da Revista USP – Ilustração: Henrique Alvim Corrêa (Domínio público/Wikimedia Commons)
Em sua nova edição, que traz o dossiê Literatura de Entretenimento, a Revista USP propõe justiça àqueles livros condenados por rótulos pouco amistosos: literatura de massa, comercial e de entretenimento. Volumes abrigados em títulos sedutores, mas observados com desconfiança por certa erudição: ficção científica, histórias de detetive, romances góticos, distopias, literatura de horror, contos de fadas. Muitas vezes, fenômenos editoriais que receberam desdém de estudiosos convictos da falta de profundidade, valor artístico ou relevância literária dessas obras. Com 190 páginas, a revista – que chega à edição 140 – está disponível na íntegra, gratuitamente, neste link.

A tarefa a que se dedicam os autores dos artigos presentes no dossiê é levar essa produção a sério. Organizado pelo professor Jean Pierre Chauvin, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, o conjunto reúne textos que se aprofundam na gênese, no desenvolvimento e nas características fundamentais de seus principais gêneros. Um panorama que sensibiliza o leitor para a importância dessas narrativas e a densidade que suas páginas guardam.
“Assim como os autores do dossiê, presumo que as narrativas de ficção científica, as distopias, as histórias de detetive, os romances góticos e a literatura de horror não precisam e nem podem ser reduzidos a meros produtos de consumo, voltados exclusivamente para passar o tempo”, escreve Chauvin no texto de apresentação dos artigos.
O que há, portanto, para além de passatempo nessas obras? Um diálogo com as principais ideias, anseios e interpretações de cada momento histórico em que foram publicadas, por exemplo. É o que mostra Sandra Reimão, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, ao analisar a literatura policial.
Inaugurado em 1841 por Assassinatos na Rua Morgue, de Edgar Allan Poe (1809-1849), o gênero dá seus primeiros passos estabelecendo o arquétipo literário do detetive moderno. Auguste Dupin é um detetive amador, que encara os crimes com os quais se envolve como enigmas da razão. É a observação e a reflexão desapaixonada – uma abordagem quase científica, alicerçada no positivismo, portanto – que traz a chave dos mistérios. Sherlock Holmes, de Conan Doyle (1859-1930), e Hercule Poirot, de Agatha Christie (1891-1976), dariam sequência a essa tradição.
Uma literatura de reconforto, que traz princípio, meio e fim bem delineados, como salientou Jorge Luis Borges. Nenhum crime, por mais complexo ou implausível, termina sem resolução, graças ao entusiasmo no poder da razão e do método. Uma abordagem que seria transformada no século 20 com o surgimento do policial noir. O estadunidense Dashiell Hammet (1894-1961) é apontado como seu criador, a partir dos contos publicados na revista Black Mask. Em 1929, ele traria à luz o detetive Sam Spade, imortalizado nas telas do cinema por Humphrey Bogart em O Falcão Maltês (1941).
As coisas estavam diferentes: Spade não era um amador que resolvia mistérios por hobby. Tratava-se de um detetive profissional, funcionário de um escritório, longe de ser infalível ou moralmente superior, como Dupin, Holmes e Poirot. Os métodos quase científicos de investigação abriam lugar para o uso da força bruta, da ameaça e da chantagem. O envolvimento emocional com as outras personagens – sobretudo a femme fatale – era acompanhado de paixões incontroláveis, ódios bestiais e outros sentimentos que passariam longe do apartamento na Baker Street.
“Ao invés de bem-educado, fino, elegante, sutil, como a maioria dos famosos detetives do romance de enigma, Sam Spade, o protagonista de O Falcão Maltês, é rude, vulgar, áspero ao expressar-se e deselegante”, escreve Sandra. “Além disso, Sam Spade não é um diletante, ele trabalha para sobreviver, ele é um empregado assalariado da Agência Continental.”
O mundo havia passado pela Primeira Guerra Mundial, a belle époque jazia sobre os escombros das trincheiras e nada mais era como antes. O otimismo na razão cedia espaço para tons de cinza e cinismo, abordagens menos generosas e idealizadas a respeito da alma humana. Se o gênero policial antes era apaziguador, agora tornava-se um instrumento de crítica social.
No Brasil, a figura do detetive seria reelaborada a partir das reflexões a respeito da própria identidade nacional. Desde O Mistério (1920), obra coletiva escrita por Coelho Neto (1864-1934), Afrânio Peixoto (1876-1947), Medeiros e Albuquerque (1867-1934) e Viriato Corrêa (1884-1967) e considerada nossa primeira produção policial, o humor foi usado para sublinhar a particularidade dos trópicos. No Brasil, as regras dos clássicos policiais deveriam ser alteradas.
Para Sandra, é uma certa ideia de brasilidade que molda as personalidades dos detetives nacionais. Exacerbação dos sentimentos e da sexualidade, misticismo, ingenuidade e limitação intelectual surgem em maior ou menor grau nos protagonistas, em geral com acento cômico. “Como que a indicar que quanto mais brasileiro for uma personagem, mais patente se torna a discrepância entre esta e a literatura policial enquanto modelo transposto”, indica a professora.
Restrição, entorpecimento e linguagem
Outro solo bastante fértil para reflexões políticas e sociais é o das distopias literárias, analisadas por Jean Pierre Chauvin. À beira de completar 200 anos, o gênero, que tem seus primórdios em O Último Homem (1826), de Mary Shelley (1797-1851), continua instigando imaginações e inspirando o cinema e a televisão. A lista de obras comentadas pelo professor vai do centenário Nós (1924), de Evgeni Zamiatin (1884-1937), atravessa o século 20 e entra no terceiro milênio com Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley (1894-1963), 1984 (1949), de George Orwell (1903-1950), Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury (1920-2012), Laranja Mecânica (1962), de Anthony Burgess (1917-1993), O Conto da Aia (1985), de Margaret Atwood, e Jogos Vorazes (2008), de Suzanne Collins.
Em comum, as narrativas trazem três elementos-chave: restrição, entorpecimento e linguagem. A trinca fornece o cimento com o qual esses romances são elaborados, correspondendo às estruturas que erguem os mundos imaginados por esses escritores. Em geral, palavras duras, porque esses são universos áridos e pouco amigáveis.
A restrição corresponde aos limites físicos e abstratos que se impõem aos protagonistas das distopias. A vigilância constante em 1984 e em O Conto da Aia, o encarceramento de Alex em Laranja Mecânica, a interdição aos livros de Fahrenheit 451. Condições que fazem Chauvin lembrar as “instituições totais” do sociólogo Erving Goffman, nas quais as barreiras sociais e proibições de ir e vir são símbolos para o caráter totalizante de sociedades como a Oceania do livro de Orwell.
Já o entorpecimento oferece aos personagens dos mundos distópicos alívio para suas existências rotinizadas e vigiadas. Servem para amortecer o peso da vida e garantir que tudo se mantenha sob controle. É nesse grupo que estão os passes para relações sexuais de Nós, a droga da felicidade de Admirável Mundo Novo, as pílulas para dormir de Fahrenheit 451 e o banquete ofertado aos participantes dos jogos vorazes.
Com a linguagem, por sua vez, os autores das distopias chamam atenção para o poder simbólico enquanto mecanismo de controle. E, ao mesmo tempo, para a força subversiva que a palavra pode ter nas mãos dos oprimidos. A novilíngua do Grande Irmão e o diário mantido por Winston Smith, em 1984. Ou a queima de livros e os exemplares mantidos em segredo por Guy Montag, no romance de Bradbury.
“De um lado, os poderosos recorrem a determinados jargões com o propósito de naturalizar as formas de violência material e simbólica”, escreve o professor. “De outro lado, os cidadãos, proletários e aias encontram brechas linguísticas que constituem metáforas de sua luta pela liberdade possível.” Na reunião desses elementos, o que está em jogo nas distopias são as condições arbitrárias e indignas que limitam e apequenam as personagens, avalia Chauvin.
Da magia feérica para a educação infantil
Literatura de entretenimento, seja ou não a melhor maneira de rotular essas narrativas, não é um produto do mundo contemporâneo. Contar histórias que hipnotizam a atenção, congelam os ossos ou dão sentido para o mundo é um hábito ancestral, entrelaçado às origens da própria linguagem. É nesses primórdios que a professora Sandra Trabucco Valenzuela, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, situa o surgimento dos contos de fadas.
Nesse gênero, cuja origem está ligada à cultura celta, o primeiro passo é a constituição de um pacto entre narrador e leitor. Os elementos mágicos da história precisam ser aceitos sem questionamento, desde que respeitem a lógica interna da narrativa, situada em um espaço-tempo imemorial de faz-de-conta. É o reino dos poderes sobrenaturais, metamorfoses, predestinação e embate entre as forças do bem e do mal.
Conforme registra Sandra, os contos de fadas possuem natureza espiritual, ética e existencial, ligada inicialmente à magia feérica. Suas heroínas e seus heróis têm histórias atravessadas pela intermediação do sobrenatural e seus objetivos costumam ser intangíveis: o amor, a felicidade e a alegria “para sempre”. Seus cenários, lembrando Walter Benjamin, são constituídos de uma atmosfera que “não é isenta de um toque irônico e satânico”.
A primeira aparição do título “conto de fadas” se deu no século 17, numa obra da escritora francesa Marie-Catherine Le Jumel de Barneville (1652-1705), a Madame d’Aulnoy. Trata-se de Les Contes de Fées, publicada entre 1697 e 1698, reunindo 24 narrativas em oito volumes. Foi Charles Perrault (1628-1703), entretanto, autor de História do Tempo Passado com Moralidades, conhecido também como Contos da Mamãe Gansa (1697), que entrou para a história como o responsável por estabelecer as bases do gênero.
Perrault reuniu e adaptou contos da tradição oral, fixando literariamente essas narrativas. Dentre as histórias de Contos da Mamãe Gansa estão A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, O Pequeno Polegar, Barba Azul e O Gato de Botas. O volume consagraria seu autor como o pai da literatura infantil. Representava uma novidade não apenas temática, mas também de público.
O Iluminismo, as demandas da sociedade industrial e a ascensão da burguesia concorreram para um olhar novo sobre a infância no mundo europeu. A constituição da família burguesa e uma sensibilidade florescente em relação aos filhos fez surgir a literatura infantil, na qual o conto de fadas acaba por se integrar. O maravilhoso das narrativas orais se encontra então com a perspectiva pedagogizante, alimentada por valores da nova classe em ascensão.
É nesse período, destaca Sandra, que os contos de fadas começam a receber tratamento artístico, afastando-se da tradição oral e do mito e se adequando aos valores morais e culturais de sua época. Século 19 adentro, o gênero ganha força sobretudo com os trabalhos dos irmãos Jacob (1785-1863) e Wilheim (1786-1859) Grimm e de Hans Christian Andersen (1805-1875). No caminho, vários aspectos dos contos tradicionais são adaptados ou eliminados para atender às regras sociais desse novo mundo burguês e industrial.
“A linguagem simbólica dos contos de fadas ressignifica, muitas vezes, valores humanos e de uma dada sociedade, revelando sua ética, temores, ansiedades, comportamentos compartilhados e tendências”, escreve a professora. “Embora sejam considerados uma forma de literatura infantil, os contos de fadas trazem a experiência da ancestralidade e, como afirma Clarissa Pinkola Estés, sobreviveram à agressão e à opressão políticas, à ascensão e à queda de civilizações, aos massacres de gerações e a vastas migrações por terra e mar.”
O gótico, o medo e o horror
O dossiê que integra a edição 140 da Revista da USP traz ainda um estudo sobre a ficção gótica, gênero surgido em 1764 com O Castelo de Otranto, de Horace Walpole (1717-1797). Fenômeno pós-renascentista, caracterizado por ambientes medievais, castelos assombrados, aparições espectrais e mortos que voltam à vida, o gótico se cria no embate com a racionalidade iluminista, conforme afirma Oscar Nestarez, doutor em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela FFLCH.
“Ao romper com as convenções realistas e investir no desconhecido e nas facetas sombrias da mente humana, a literatura gótica tornou-se uma tradição artística que codificou modos de figurar os medos e de expressar os interditos de uma sociedade”, registra Nestarez.
O medo é também o combustível para a literatura de horror, investigada por Caio Alexandre Bezarias, mestre em Literatura de Língua Inglesa pela FFLCH. Com origens nas narrativas míticas, o horror nos lembra, escreve o autor, “que este cosmo organizado que vemos e tanto prezamos é apenas uma construção de nossas limitações como seres mortais e minúsculos, construção limitada e, pior, transitória, diante de um universo muito maior e incompreensível, do qual nossos sentidos e nossa ciência captam apenas uma pequena parte”.
Em seu artigo, Bezarias apresenta e discute algumas tentativas de tipologia para o gênero, que se espraia no horror cósmico, de ficção científica, corporal, folclórico, sobrenatural e psicológico, dentre outras categorizações possíveis. Ainda que não exaustivas nem totalmente adequadas para se abordar essas obras criteriosamente, servem de referência para uma literatura que expressou como nenhuma outra “a angústia e o mal-estar da modernidade, motivados pela alienação e separação das esferas da vida e do mundo pré-moderno, em que tudo estava relacionado”, conforme apontou o pensador húngaro György Lukács (1885-1971), citado pelo autor.
Completam o dossiê um estudo sobre a literatura fantástica, assinado por Ricardo Iannace, professor da FFLCH, e um panorama da ficção científica, escritor por Romy Schinzare, professora do ensino público municipal de São Paulo.
Além do dossiê Literatura de Entretenimento, a nova edição da Revista USP traz ainda contribuições sobre direitos humanos na América Latina, uma discussão em torno do conceito de cultura e um artigo sobre o artista paraibano Sérgio Lucena. Fecham o número as resenhas dos livros Correspondência: Mário de Andrade & Oswald de Andrade, organizado por Gênese Andrade, e 25 Anos de Política Externa Brasileira (1996-2021), organizado por José Augusto Guilhon Albuquerque.

Revista USP, número 140, publicação da Superintendência de Comunicação Social (SCS) da USP, 190 páginas. A revista está disponível na íntegra, gratuitamente, neste link.
A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.