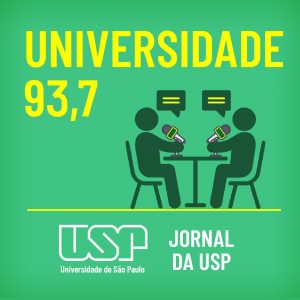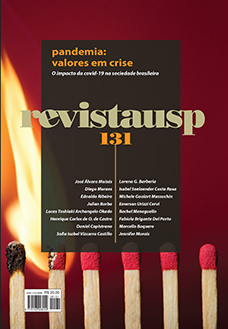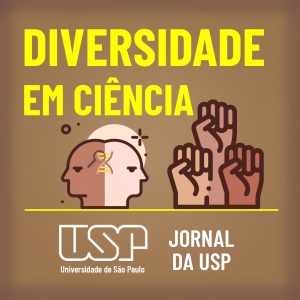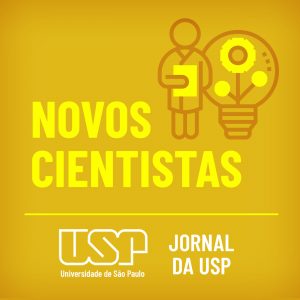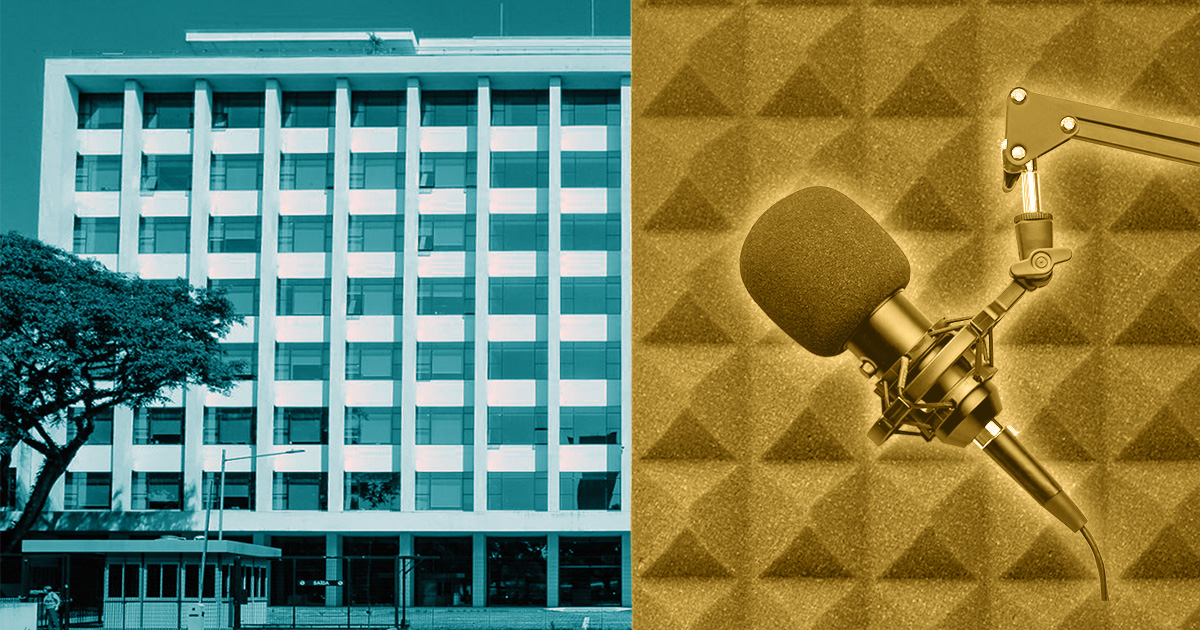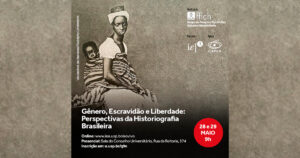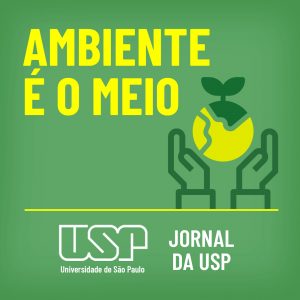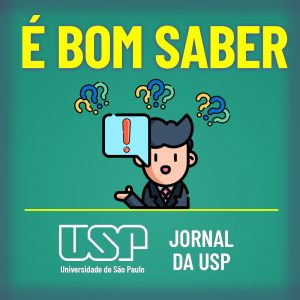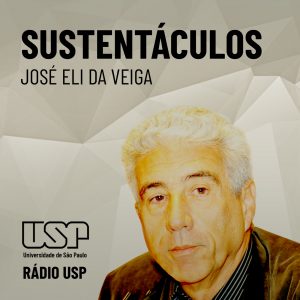Essencialmente, a Complexidade como a conhecemos nos dias atuais (sistemas complexos adaptativos, pensamento complexo, holismo, econofísica, entre outras) deriva de duas grandes correntes de pesquisa e pensamento dos anos 1940: a cibernética e a teoria geral dos sistemas.
Em 1946, ainda sob os traumas da Segunda Guerra, se reuniu pela primeira vez em Nova York um grupo de pesquisadores de diversas disciplinas, entre eles Gregory Bateson (antropólogo), Julian Bigelow (primeiro engenheiro de computadores), Warren McCulloch e Walter Pitts (respectivamente, neuropsiquiatra e matemático, criadores do neurônio artificial), Margareth Mead (antropóloga), John von Neumann (matemático, criador da arquitetura de computadores que usamos hoje, autômatos celulares, teoria dos jogos e muito mais), Arturo Rosenblueth e Norbert Wiener (respectivamente, médico e matemático, criadores da cibernética), entre outras figuras que moldaram uma parte do pensamento da segunda metade do século 20.
Esse foi primeiro de vários encontros, que passaram a ser anuais, hoje conhecidos como conferências Macy e que duraram até 1953. Daí surgiu a Cibernética. Esta área do conhecimento pode ser entendida pelo subtítulo do livro de Wiener publicado em 1948, “comunicação e controle no homem e na máquina”. Foi um primeiro esforço para reunir as teorias que acreditavam, em maior ou menor grau, que o comportamento dos seres vivos pode equivaler ao das máquinas, tanto nas formas de comunicação (transmissão da informação) como do controle.
Se na atualidade a cibernética não suscita mais o furor de 80 anos atrás, uma leitora jovem pode imaginar o equivalente à discussão atual da IA. Pergunta-se como ela vai controlar o mundo e se os seres humanos poderão se tornar “obsoletos”. Basta pensarmos, na atualidade, em termos como ciberataques, cibercriminosos ou cibersegurança. Todos derivados dessa ideia original de recursos tecnológicos se equivalendo aos seres vivos.
O conjunto de ideias desenvolvidas incluiu conceitos como a realimentação (feedback), a teoria da informação, indo até a conjecturar que seres vivos funcionam como máquinas mesmo tendo suas características espirituais.
Enquanto isso, outro ramo de ideias se desenvolvia na Europa. A partir da biologia, nos anos 1920, Ludwig von Bertalanffy propunha ideias sobre Sistemas. Coloco aqui com S maiúsculo pois o conceito se popularizou de tal forma que é quase impossível tratar de qualquer tema sem mencionar uma parte sistêmica inerente, desde sistema econômico até “BaianaSystem”.
Os primeiros sistemistas também se reuniram em conferências multidisciplinares a partir de 1954, apoiados pela Sociedade Americana para o Progresso da Ciência. Mas não me parece que tenha sido comparável às iniciativas cibernéticas tanto considerando o tamanho do grupo científico envolvido em ambas as iniciativas, quanto o impacto desencadeado na ciência posteriormente. Apesar do termo sistema ser muito mais popular que cibernética.
Como tais ideias cibernéticas e sistêmicas desembocaram na complexidade mencionada no primeiro parágrafo? Acho que a melhor forma de ilustrar é mencionando os conceitos desenvolvidos décadas atrás e que, hoje, utilizamos com naturalidade.
Comecemos com realimentação ou feedback. Esta ideia, usada até na nossa avaliação pessoal entre chefes e subordinados, nasce da formalização de um conceito citado por James Clerck Maxwell, no século 19, para controlar a pressão das máquinas a vapor. Mas foi Wiener que o formalizou matematicamente, mostrando como podemos usar as medidas (pressão, temperatura, corrente elétrica) de saída de um processo qualquer, para regular as entradas desse mesmo processo. Ou seja, quando um termostato detecta que a temperatura interna da geladeira está no valor correto, o motor é desligado. E o inverso ocorre quando ela esquenta.
Se hoje isso é óbvio, foram os ciberneticistas que colocaram esse “ovo em pé”. O conceito de feedback se sofisticou; hoje falamos de feedback positivo e negativo. Este último serve para controlar uma interação, e o primeiro pode ser uma ocorrência natural na qual uma ação é reforçada até o limite ou ruptura do sistema (quando você empurra alguém na balança, levemente, reforçando o movimento a cada oscilação).
Do lado da teoria geral dos sistemas aparece a ideia de sistemas abertos. Se é também algo que nos parece trivial, está longe de ser evidente. Ainda é frequente utilizar-se modelos de sistemas fechados, já que essa forma de pensar é mais fácil de conceber e ensinar. Seja no ciclo do motor do carro, na circulação sanguínea ou na rotação dos planetas em torno do Sol (perdoem-me os mais técnicos pela liberalidade da explicação), tratamos o sistema como se estivessem isolado do meio que o circunda. O que, de fato, nunca é verdade! Sempre há uma troca, pequena ou grande, que torna a interface entre o que é considerado externo e interno motivo para análises e considerações.
Mas havia mais. Ambos os grupos discutiam, por exemplo, a homeostase, este fundamento na área biológica e médica com o qual, na verdade, estamos familiarizados. Por exemplo, a nossa temperatura em 36,5ºC. Não é fascinante imaginar que com 0,5ºC a mais estamos ficando doentes e com apenas 42º C uma pessoa pode morrer? Essa busca pelo equilíbrio, que afeta tanto seres vivos como fenômenos inanimados, também foi alvo de análise e estudo. Não à toa se discute quantos graus acima da temperatura média da atmosfera da Terra podemos ficar sem o planeta sair de sua homeostase, entrando em colapso.
Outra crença compartilhada era acreditar profundamente em um mecanicismo inerente às estruturas, tanto inanimadas quanto vivas. Acreditar que seria possível modelar (matematicamente) qualquer comportamento, desde que se tivesse acesso a parâmetros suficientes. A Complexidade aprendeu que esses modelos estão muito mais distantes do que se queria crer anteriormente e que as pequenas variações e as condições iniciais não permitem saber com precisão o comportamento de todos os sistemas. Todavia existem muitos cientistas que acreditam em novos modelos, não mecanicistas, mas ainda capazes de prever comportamentos.
E a informação? Esta que se tornou o principal bem da sociedade contemporânea, era há 80 anos uma especulação. Foram as pessoas que trabalhavam com sistemas e cibernética que perceberam o quanto a informação era chave para entender tudo o que acontece na natureza. E assim, ela foi procurada, modelada, matematizada, armazenada em formas criativas e inovadoras. E agora já não sabemos se ela nos serve ou nós a servimos.
De forma geral, pode-se afirmar que tanto a cibernética quanto a teoria geral dos sistemas compartilharam um conjunto de crenças: a) ter um caráter interdisciplinar, b) opor-se a modelos simples de causa e efeito, c) dar ênfase ao equilíbrio dinâmico, d) superar a antítese estrutura-função, e) usar um método indutivo para desenvolver leis e teorias.
Em um plano um pouco mais filosófico, tanto sistemistas quanto ciberneticistas pensavam na teleologia, ou seja, na finalidade última dos seres ou das ações. Pessoalmente, acho esse um dos pontos mais interessantes e, ao mesmo tempo, mais sujeito a discussões e controvérsias. A pergunta é: qual o propósito de uma ação? Wiener usa o exemplo de uma pessoa querendo pegar um cigarro (politicamente incorreto) e quais mecanismos são acionados para essa ação. Mas, a questão filosófica se dá no momento em pensamos no porquê tivemos esta vontade (ou mais genericamente, na motivação de qualquer outro ser para uma ação). Afinal, o próprio Espinosa explica que “[…] os homens enganam-se ao achar que são livres. [eles] são conscientes de suas ações e ignorantes das causas pelas quais são determinadas. Essa é, pois, a sua ideia de liberdade: não conhecem nenhuma causa de suas ações.”
Como já faz algum tempo que estou pesquisando este assunto, publiquei um artigo, em inglês, com esta história contada com um pouco mais (muito mais) detalhes. É acessível pela internet.
Um dos desafios de escrever no Jornal da USP é criar um conteúdo à altura de outros articulistas. Assim, eu recomendo que, se você leu e gostou deste texto, leia também o artigo do professor Ary Plonski, que deu ênfase ao legado e às incoerências de Bertalanffy.
Cenas dos próximos capítulos: Morin e o pensamento complexo, Complexidade na América Latina, o Santa Fe Institute e muito mais (não necessariamente nesta ordem). Não perca.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)