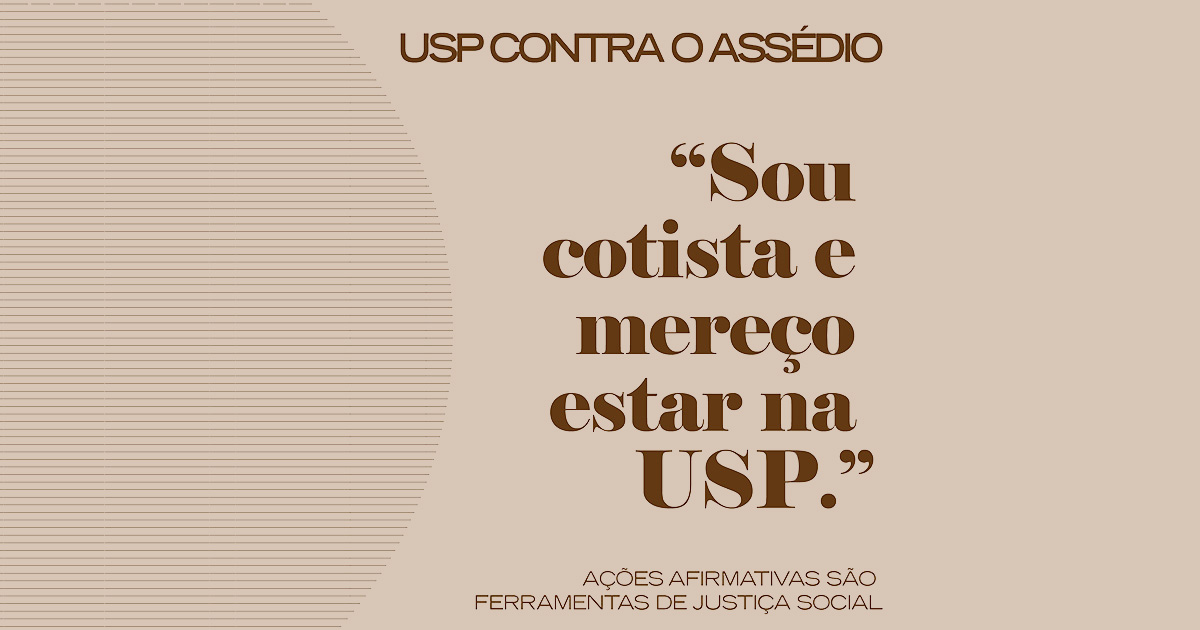E se Donald J. Trump vencer as presidenciais norte-americanas de novembro de 2024? Essa pergunta singela e até inocente incomoda, constrange, encanta e conforta muita gente. Faz isso porque deixou de ser uma hipótese estravagante para se tornar um axioma consequente. A presença do magnata dos negócios no núcleo das decisões políticas causa, de uma só vez, som e fúria. Encaixa como luva nos desígnios dos ultraconservadores em ascensão em toda parte. Mas também figura como desespero para todos os demais desterrados do sonho de uma noite de verão. Tudo muito ambíguo. Mas não sem razão. Vive-se, neste século, desde muito, tempos de ser ou não ser. Mas, doravante, como nunca, suportar a escolha da vida dos outros virou uma inglória questão.
Tudo porque, num crescendo, quando o tea party começou a renascer às margens da crise financeira de 2008, ninguém suspeitou se tratar dos primeiros espasmos de um traumatismo sem precedentes na compleição dos valores, fundamentos e consciências ocidentais. O charme retórico irrepreensível do presidente Barack H. Obama minorou as dimensões dos estragos. Como anteparo ao “invasor do Iraque”, o antigo senador de Illinois admirador de Martin Luther King Jr. (1929-1968) prometeu uma sociedade pós-racial, um país pós-imperial e um mundo severamente aferrado aos preceitos ocidentais. Com seu corpo negro e sua inteligência marinados em quadras de basquete e salas de aula em Columbia e Harvard, esse havaiano de ascendência queniana encantou a todos, norte-americanos e outros, por muito mais que os cem dias rooseveltianos de seu primeiro mandato. Suas aparições eram todas desconcertantes. Seus discursos, lindamente pensados e formidavelmente pronunciados, iam mesclados ao seu body language milimetricamente meditado e aos seus sorrisos e pausas diabolicamente projetados. Era um encanto à John F. Kennedy e Jackie Kennedy de mistura com Lady Di. Parecia o esboço perfeito de um portrait sem retoques do melhor que o sonho norte-americano aspirava indicar. Mas, não.
O seu famoso discurso do Cairo, A new beginning, de meados de 2009, entrou para o tableau das manifestações presidenciais mais galhardas de todos os tempos, mas, em contraponto, também se firmou como uma das promessas mais falhas, falíveis e irreais desde sempre. Alçando uma mão amiga para a superação dos destroços da guerra ao terror em espaços africanos e médio-orientais, ele ampliou ilusões, mal-entendidos e autoenganos que corporificariam as Primaveras Árabes dos anos adiante.
Sua reeleição, em 2012, deveu-se, reconheça-se, à neutralização – leia-se: assassinato – do causador do 9 de setembro, Osama Bin Laden. Mas, também e sobretudo, à ausência de charme, presença, disposição e domínio da comunicação 4.0 entre seus concorrentes. Era – e é – impossível compará-lo ao valoroso senador Mitt Romney, seu oponente republicano. Desse modo, a sua manutenção no cargo não causou espavento. Do contrário. Foi consentida à priori. Ainda mais porque seu mantra era envolvente e dizia aos quatro ventos que “a decade of war is ending” [o decênio de guerras está terminando].
Basta-se avivar as suas principais manifestações na campanha e as suas exposições de presidente reeleito entre 2011 e 2012. Tudo era bonito, eloquente, conveniente. Mas, novamente, não. Ele, Barack H. Obama, não foi capaz de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão – feito realizado apenas pelo seu sucessor – tampouco de cumprir a promessa de represália às alegadas contravenções tóxico-bélicas do presidente da Síria, Bashar Al Assad. Mas, mesmo assim, sinalizou apoiar inapelavelmente o multilateralismo, a democracia, o livre mercado, o Ocidente e os valores ocidentais. Um apoio claro e importante. Mas fora de timing e tarde demais. O leite já ia derramado. Velhos e moços, herdeiros das gerações que agigantaram os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos entre 1958 e 1983 e contemporâneos daqueles que marcharam em Seatle em fins de 1999 e ingressaram no século 21 enunciando que uma outra globalização é possível, avolumavam as ocupações de Wall Street. A mensagem dessa gente plantada em cabanas e barracas no coração financeiro do planeta era límpida e frontal e gritava para quem dissesse ouvir que tudo que o Ocidente representou e representa estava a ruir.
Mas, por mais impressionante que possa parecer, ninguém do establishment quis ouvir. Apenas os trumpistas avant la lettre – a saber: os catastrofistas do tea party e os extremistas ultraconservadores diletantes – notaram, anotaram e deram atenção. Entenderam se tratar de um gigantesco sinistro nos fundamentos das sociedades ocidentais. Muito pior que as fraturas sociais alardeadas pelo presidente Jacques Chirac tempos atrás e ainda bem mais complexo que a história de territórios perdidos da república. Era muito mais que somente uma grave crise de finanças. Tratava-se de uma mudança de tempos, tipo um zeitgeist, que abria espaço para novas lideranças atuar.
Sarah Louise Palin, antiga governadora do Alasca, candidata a vice-presidência nas eleições de 2008 e pré-candidata às presidenciais de 2012, funcionou como avant-première desses extremistas. Foi importante, relevante e abriu caminhos. Mas, à época, 2008 e 2012, a persona Sarah Palin pareceu diferente demais, jovem demais, feminina demais, evangélica demais e explicitamente conservadora demais. Os novos ventos pediam alguém com maior physique du rôle. Não se sabia muito bem quem nem quando. Mas a procura dessa personagem ideal continuou.
Nesse entremeio, o zeitgeist se afirmou. Não apenas nos Estados Unidos, mas em toda parte. Não simplesmente pela onda de occupy, Wall Street e todas as capitais ocidentais do mundo. Mas especialmente pela frustração das ruas árabes condensada no fracasso da intervenção na Líbia. Nada denotou maior fragilidade do Ocidente naquele momento que essa aventura.
Do contrário, veja-se.
Foi sob a demanda da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, democracias liberais estabelecidas, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a abstenção da China e da Rússia, promoveu o destronamento Muammar Gaddafi (1942-2011), liderança inconteste do Magreb e do mundo árabe. Em seu lugar, nada se programou. Nem democracia tampouco estado de direito menos ainda recursos humanos para conduzir a transição. Consequente e lamentavelmente, desde o dia seguinte, desvalidos africanos e médio-orientais de todos os estados falidos da região começaram a usar a frouxidão das fronteiras líbias para inundar o Mediterrâneo com o propósito de chegar aos campos verdejantes da Europa. O detalhe sutil que desconheciam era que de verdejantes esses campos europeus já não tinham quase nada.
O saudoso Michel Rocard (1930-2016), enquanto primeiro-ministro da presidência de François Mitterrand em fins dos anos de 1980, já dizia que “a França – nem a Europa – não pode acolher toda a miséria do mundo.” Ou seja, que os campos franceses e europeus – àquela época – não eram tão verdejantes como se imaginava algures.
Vinte anos depois, sob os efeitos da crise financeira de 2008, esses campos ficaram ainda menos vistosos. Especialmente porque a crise do euro – acomodação da crise de 2008 no espaço europeu – fez refluir a construção europeia a repulsas jamais imaginadas.
O “não” francês e holandês à Constituição europeia no referendum de 2005 foi um sinal de agastamento. Mas, efetivamente, foi a crise do euro que estraçalhou definitivamente toda a paisagem política do continente. Foi feito um dilúvio e depois. Uma tempestade e o dia seguinte. Nenhuma autoridade política – exceto a chanceler Angela Merkel – permaneceu ou foi reconduzido ao poder após 2008. Vide o drama italiano. Depois de Romano Prodi, primeiro-ministro entre 2006 e 2008, e de Silvio Berlusconi, primeiro-ministro entre 2008 e 2011, um dilúvio de infortúnios banhou o país inteiro e Giorgia Meloni tem sido menos pior Mario Monti (2011-2013), Enrico Letta (2013-2014), Matteo Renzi (2014-2016), Paolo Gentiloni (2016-2018), Giuseppe Conte (2018-2021) e o todo poderoso Mario Draghi (2021-2022). Vide os desastres entre os ibéricos. Nem a “geringonça” funcionou entre os portugueses. No caso espanhol, a situação ficou tão imponderável que até o digníssimo rei Juan Carlos I, o mesmo que promoveu honrosa e segura transição do franquismo à democracia, abdicou. Vide país por país do Atlântico ao Ural. Nenhum sistema partidário suportou a pressão das ruas agudizada pela austeridade do Banco Central e pelo desemprego estrutural. Mesmo na França, onde os partidos eram levados a sério, as tendências políticas viraram migalhas a ponto de discursos e personagens essencialmente racistas, xenófobos e eurofóbicos serem naturalizados no espaço público e na paisagem política. E o que dizer do Brexit?
Era para essa Europa decomposta que os desamparados africanos e médio-orientais começaram a fugir em massa após o regime change na Líbia. Francamente, nada de próspero existia por lá. Bem do contrário.
Enquanto isso, desde os Estados Unidos, essa película de pavor era vista com contrição. Vivia-se internamente desacorçoo similar. Os norte-americanos, pela primeira vez em mais de um século, reconheciam não poder acolher nem conviver com toda gente do mundo. O presidente Obama chegou a regularizar a situação de mais de cinco milhões de imigrantes ilegais. Mesmo assim, em nada aliviou.
Que fazer?
Nenhuma interpretação que minore o peso dessas crises na escolha da persona de Donald J. Trump como figura providencial de tempos desabados pode ser reconhecida como válida. A ascensão do trumpismo e o sucesso eleitoral dos extremistas ultraconservadores em 2016 foram produto da sinergia de tudo isso.
Donald J. Trump sempre foi publicamente extravagante, grosseiro, vulgar e politicamente incorreto nos padrões imateriais dos leitores tardios de Castiglione. O partido republicano o acolheu consciente de tudo isso. Mas a terra estava toda inútil e arrasada – the waste land – e ninguém parecia ter mais nada a perder. Foi nessa ambiência, então, que o magnata dos negócios se permitiu ser picado pela mosca azul. Conseguintemente, ele ingressou no sistema, afiliou-se ao partido, apresentou candidatura, participou dos rituais, disputou as primárias, esmagou seus oponentes internos e, ao fim das contas, humilhou a candidata e a candidatura de Hillary Clinton. Caracterizar tudo isso como produto de fake news ou post-truth, além de pedestre, chega a ser hipócrita. Da mesma sorte que classificar as réplicas perfeitas e imperfeitas de Donald J. Trump mundo afora – Jair Messias Bolsonaro no Brasil, Javier Milei na Argentina, Marine Le Pen e Éric Zemmour na França, Heinz Christian Strache na Áustria, Geert Wilders na Holanda, Giorgia Meloni na Itália – como “fascistas” ou “nazistas” beira à candidez.
Por mais que o novo tempo aberto pelo 11 de setembro de 2001 e pela crise de 2008 guarde semelhanças com as conjunturas europeias de 1918 a 1939, as indeterminações do segundo decênio do século 21 seguem distantes daquelas ancoradas nas razões e nos efeitos da quebradeira de 1929. Donald J. Trump e seus congêneres não são Hitler nem Mussolini. Longe disso. São, sim e também, personagens disruptivas. Mas em momentos de ser ou não ser bem diferentes. Incomparáveis, talvez.
Donald J. Trump e suas replicações emergiram para evidenciar que a história continua e que a economia de mercado, a globalisation heureuse e a democracia liberal deixaram de ser irresistíveis – se é que um dia o foram – como queria o professor Francis Fukuyama. Ninguém – exceto os extremistas ultraconservadores – quis acreditar nisso nas presidenciais norte-americanas de 2016. Daí o espanto com a eleição de Donald J. Trump e de tantos outros a seguir. Custou a se perceber que a crise de 2008 inaugurou o que se vayan todos global. Como alguém precisa governar, virou salutar, assim, a escolha dos mais improváveis.
Se nada disso já não fosse suficiente, esse ambiente também permitiu a normalização da alt-right no mundo inteiro. Não simplesmente nos Estados Unidos nem somente com Steve Bannon. Com ela, o cânone e o decoro das práticas ocidentais foram postos em revista. Conseguintemente, incrivelmente, de uma hora a outra, depois de 2016, os ganhos do Iluminismo, da razão e da Revolução Francesa começaram a ser contestados com mais veemência que o foram em todos os séculos anteriores. Consequentemente nunca se reivindicou tanto como hodiernamente a pureza do cristianismo primitivo paulino, a essência de preceitos católicos tradicionais e renovados e a ética protestante castiça e ressignificada. E, desse modo, nunca Max Weber foi tão exaltado e tão deturpado.
O propósito de tudo isso pareceu confuso num primeiro momento. Mas, longo em seguida, ficou bem claro o que se desejava – e ainda deseja – que era refundar o Ocidente e reparar os seus perdedores, a saber: europeus e norte-americanos rebaixados e desamparados moral, espiritual e financeiramente depois de 2008.
No caso norte-americano, o efeito prático desse refundar/reparar foi o esforço de concretização do Make America Great Again (MAGA). Nessa sanha, a presidência de Donald J. Trump reviu o pacto transatlântico com os europeus, tornou pragmática a interação com o Oriente Médio e elegeu autocratas do mundo inteiro como aliados de valor. Dito de modo direto, atrofiou-se a presença norte-americana na Otan, mandou-se matar o iraniano Qassem Soleimani, costurou-se os Acordos de Abraão entre Israel e porções árabes, prometeu-se superar as querelas nucleares com a Coréia do Norte em vinte e quatro horas e foram feitos de modelo a virilidade dos mandatários tipo russo, turco, húngaro e afins.
E se Donald J. Trump vencer as presidenciais norte-americanas de novembro de 2024? Resposta imediata: todas essas questões retoricamente silenciadas sob a presidência de Joe Biden retornarão estridentes à ordem do dia.
O singelo programa trumpista para um novo mandato do magnata propõe simplesmente uma segunda American Revolution com desdobramentos contundentes no mundo inteiro.
Internamente, os norte-americanos que se conversem. Mas fora dos Estados Unidos, essa Segunda Revolução projeta, inicial e exclusivamente, a solução imediata das querelas entre eslavos e entre médio-orientais. Sendo direto, Donald J. Trump reeleito quer “resolver, em 24 horas”, a situação russo-ucraniana e israelo-palestina para seguir para o essencial que é o embate dos Estados Unidos com a China.
A solução instantânea das questões de Rússia versus Ucrânia e Israel versus Mundo Árabe parece, por claro, pouco verossímil. Mas um eventual desengajamento imediato da presença dos Estados Unidos nas operações da Otan na Ucrânia e um reforço implacável do apoio norte-americano aos esforços de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são muito prováveis da parte de uma nova presidência trumpista. O impacto planetário dessas duas possíveis ações escapa a todos os cálculos inclusive dos mais preparados. O que se sabe de saída é que os europeus simples e sinceramente não possuem recursos financeiros nem morais para seguir apoiando sós o presidente Volodymyr Zelensky e que nem todo o petróleo das Arábias vai ser suficiente para conter as indeterminações da manutenção ad aeternum dessa nova fase das tragédias médio-orientais.
Diante disso, uma nova fase momentum hamletiano aberto pela crise de 2008 vai se impor a todos e o ser ou não ser aliado dos norte-americanos em suas aventuras nacionais e epopeias internacionais voltará a ser um imenso dilema e uma incontornável questão.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)