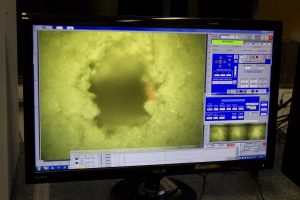[…] a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha etc… mas, tornar-se negra é uma conquista (…).
Lélia Gonzalez, 1988.
Das intelectuais que dão suporte ao pensamento negro atual, Lélia Gonzalez (1935-1994) é uma das autoras mais referenciadas pelos movimentos antirracistas e feministas no Brasil, na América Latina, nos EUA e, particularmente, na França. Sua obra tem pautado reflexões sobre raça, classe, gênero, sexualidade, política e, sobretudo, a construção de um saber crítico que vê as desigualdades sociais e quer transformar o mundo.
No Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, rememorar Lélia Gonzalez é assinalar a data para além da celebração. É, de fato, transformá-la em um momento de reflexão sobre as histórias e condições de sobrevivência das mulheres negras e indígenas no Sul global. Pensar sobre a efeméride, criada para dar visibilidade e estimular políticas públicas para essas mulheres, a partir dos principais pontos da obra da intelectual brasileira, pode auxiliar no processo de “tornar-se negra”.
A partir de abordagens que envolvem áreas como a Filosofia, as Ciências Sociais, a Antropologia e a Psicanálise, Lélia Gonzalez, professora universitária e militante, mobiliza teorias e conceitos que buscam interpretar, a partir do tema “mulher negra”, a experiência da colonialidade e da subalternidade, bem como suas formas de dominação, entre elas, o racismo, o sexismo e o capitalismo. Sua produção é orientada por três chaves de interpretação: a decolonial, a interseccionalidade e a psicanalítica.
Nas chaves decolonial e interseccional, para Lélia Gonzalez, o eurocentrismo e o feminismo ocidental tendem a desvalorizar os saberes das mulheres negras em diáspora, reproduzindo, então, as representações coloniais geradoras de desigualdades. As intersecções ou sobreposições de identidades sociais estão presentes nos sistemas de opressão e devem ser examinadas e discutidas.
Assim, ela questiona epistemologias hegemônicas, o feminismo e, com bastante acuidade, o mito da “democracia racial no Brasil”. Gonzalez participa de lutas contra a ditadura civil-militar (1964-1985), o apartheid na África do Sul (1948-1994); da fundação do Movimento Negro Unificado (1978); da organização do Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras; atua no Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) e colabora em subcomissões que discutiram o processo constituinte (1986-1988). O contexto da produção de sua obra também é muito relevante: entre os anos de 1970 e 1990, têm-se as reivindicações por direitos civis e igualdade racial nos EUA, os processos de redemocratização no Brasil e de outros países latino-americanos e as lutas por independência dos países africanos.
Seu pensamento denso situa-se ao lado de intelectuais brasileiros renomados, como Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes e Beatriz Nascimento. No cerne de seus escritos, Lélia traz referência à obra do psicólogo e pan-africanista Franz Fanon (1935-1961), especialmente quando evoca questões que circundam as formas de subjetivação da dominação.
Na chave psicanalítica, nossa intelectual evidencia os danos provocados pela relação dominação/exploração entre colonizador e colonizado.
Essa lógica está nos valores civilizatórios universais que são colocados como herança dos colonizadores, à medida em que os colonizados eram vistos como selvagens, primitivos e despossuídos de legado que mereça ser transmitido. Outro mecanismo de alienação do sujeito está no que ela chama de “racismo disfarçado”, inscrito particularmente pelo mito da democracia racial no Brasil. Nesse, a crença da miscigenação cria, simultaneamente, o mito da inexistência do racismo e a negação da própria raça e cultura.
Ainda dentro do escopo teórico deixado por Lélia, existem duas categorias político-culturais que são importantes para os debates de nossos dias: a amefricanidade e o pretuguês. A amefricanidade, termo cunhado por ela, em 1980, (América + África), surge no entendimento da diáspora negra e do extermínio das populações indígenas nas Américas. Nesse conceito, há a intenção de resgatar as histórias de resistências constituídas no âmbito de violência e de poder da colonialidade.
Para a pensadora, a presença da “latinidade” no Novo Mundo foi inexpressiva. A preponderância foi de ameríndios e africanos e, por essa razão, sua tese trata sobre a “Améfrica Ladina”. A amefricanidade, no fundo, é a experiência comum de negros e indígenas contra a dominação colonial. Nesse sentido, a categoria adquire força epistêmica, isto porque se traduz em outra forma de pensar e produzir conhecimento, a partir dos subalternos, dos excluídos e marginalizados.
Mas por que evocar o escopo teórico de Lélia Gonzalez hoje? O primeiro e mais superficial motivo seria a fundamentação do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, 25 de julho. Porém, numa camada mais profunda – ao menos para os interessados em artes visuais – está no dado de que o pensamento de Lélia tem surgido com bastante força em obras, manifestos e exposições.
Nesse sentido, mencione-se a exposição individual de Rosana Paulino no Malba, chamada de Amefricana (finalizada em julho de 2024), na qual a artista joga luzes sobre arquivos pessoais e históricos, então recontextualizando aspectos ligados à arte brasileira, além de suscitar interrogações sobre as matrizes da ciência ocidental (seus sistemas de classificação, suas hipóteses, suas formas de ordenar o mundo). Paulino, em suas obras, emprega uma abordagem relacionada aos afetos e circunstâncias das mulheres negras na sociedade brasileira e latino-americana. No alto do edifício do Malba, uma bandeira, elaborada pela artista, onde se via o perfil de uma mulher negra e escrito “PRETUGUÊS”, tremulou por toda a campanha expositiva – indicação simbólica de um território conquistado.
Ainda sobre a influência de Gonzalez nas artes visuais, merece destaque a exposição Lélia, em nós – festas populares e amefricanidade, com curadoria de Glaucea Helena de Britto e Raquel Barreto, organizada pelo Sesc, na unidade Vila Mariana (até 24 de novembro de 2024). Essa exposição tem como motivação central o lançamento da nova edição do livro Festas populares no Brasil, de Lélia Gonzalez (original publicado em 1987) – segundo os organizadores da mostra, “único livro que uma das pioneiras do feminismo negro no País assinou, em vida, inteiramente como autora”.
O diálogo entre pensamento social, artes visuais e cultura popular rege a disposição das obras, dos objetos e dos distintos documentos (fotografias, vídeos e sons). A vida, a memória e, enfim, a presença de “Lélia em nós” estão em todos os cantos da mostra. A visibilidade das preocupações de Lélia, assim como a representação das festas populares presentes nas obras de arte é emocionante.
Deem-se ênfases as instalações Cama de campanha do meu tio Paizinho (2024), de Lidia Lisboa, e Mina de ouro: consciência e memória, de Hariel Revignet – ambas obras comissionadas para a exposição. A pequena Iemanjá (Sem título, 1971) de Maria Auxiliadora, e o baile (Sem título, 1960), de Heitor dos Prazeres, por exemplo, remetem à vivacidade desta produção encaixada pela crítica hegemônica como “arte naif” ou “primitiva”. Sob os olhares de Lélia e sob o conceito de amefricanidade, não cabe classificá-las como tal.
A discoteca de Lélia com capas de LPs (em inglês, Long Playing Record, na nossa versão livre, o bom e velho disco de vinil) é uma viagem musical a partir de diversos gêneros (eruditos, rock, sambas-enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, axé, registros sonoros de festas populares e missas católicas em língua iorubá). Como não lembrar o samba-enredo Kizomba, a festa da raça, 1988 – da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel – campeão daquele Carnaval, em comemoração aos 100 anos de abolição da escravidão? Tudo simplesmente testemunho do movimento social que vivemos hoje.
Já a segunda categoria criada por Lélia Gonzalez, o pretuguês, pode ser vista na mostra Lélia em nós, no Sesc Vila Mariana. Porém, a mostra de longa duração do Museu da Língua Portuguesa e sua mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil, com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana (em cartaz até janeiro de 2025) podem até ter a presença da figura de Lélia atenuada, mas levam em conta a africanização do idioma falado no Brasil. Assim, as palavras de Lélia Gonzalez (1988) tomam corpo, imagem e som:
É engraçado como eles [sociedade branca elitista] gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse r no lugar do l nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o l inexiste. Afinal quem é o ignorante? Ao mesmo tempo acham o maior barato a fala dita brasileira que corta os erres dos infinitivos verbais, que condensa você em cê, o está em tá e por aí afora. Não sacam que tão falando pretuguês.
Se estratégias de poder e dominação se manifestam pela língua, no Brasil, o pretuguês (fusão do sistema linguístico do colonizado com o do colonizador) – ensinado pelas mulheres negras, mães-pretas e amas-de-leite – se torna resistência: um modo de sobrevivência de fragmentos das línguas africanas.
Assim, a amefricanidade e o pretuguês têm a resistência como centralidade; essas categorias positivam a estigmatização e questionam o paradigma dominante. Lélia Gonzalez sabia questionar as condições dadas pela colonialidade e, a partir de abordagens centradas no decolonial, na interseccionalidade e no gênero, via na mulher o agente da mudança. Para ela, a mulher negra e as ameríndias – as amefricanas – eram o ponto fulcral da transformação social. Desse modo, sua potência e suas ideias não estão apenas espelhadas nas motivações políticas da efeméride, mas, também, nas práticas e vivências da arte contemporânea brasileira.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)