
“Nós passamos 11 anos falando sobre tudo: música, cinema, viagens, gastronomia, literatura, putaria, política, sobre a vida, a morte, saúde, sobre tudo. Até que o fascismo nos afastou, infelizmente. Depois veio a pandemia. Mas eu ainda esperava reencontrá-lo para retomar nossas conversas.” Assim relata, saudosamente, Aline Pereyra, amiga de José Ramos Tinhorão, por ocasião de sua morte em 3 de agosto de 2021.
Esse jornalista de origem, que se tornou um dos principais historiadores da música popular no Brasil, tinha muitos outros interesses e trabalhos para além de sua faceta mais conhecida. A música foi sua principal paixão e objeto de estudo. Mas foi além, abordando literatura, dança, economia, tecnologia, religião e tudo o mais que lhe permitisse olhar a realidade musical como parte de um contexto mais amplo. E, pelo que seus amigos contam, essa amplitude se espraiava pela vida.

Jorge Henrique Bastos editou um de seus livros, Crítica Cheia de Graça, e foi um dos que compartilharam os outros deleites de Tinhorão. Durante o tempo em que morou em Portugal, Bastos recebia seu amigo todos os anos. Lá, degustavam sempre uma nova pedida para completar o repertório gastronômico do pesquisador. Quando perguntado sobre quais eram os traços mais marcantes de Tinhorão, Bastos responde: “A ironia ferina, o lado libertino e dionisíaco – amava um vinho, gostava de um bom prato e não recusava uma cachaça –, a agudez do pensamento e a facilidade no tratamento, por parte de alguém que sabia que produzira uma obra colossal e mesmo assim era esnobado pela academia”.
Aliás, essa tensão com o universo acadêmico foi uma das tônicas de sua vida. Uma das frases muito ouvidas por quem conviveu com Tinhorão revela como ele via os pesquisadores universitários: “Comem Tinhorão e arrotam Mário de Andrade”.
Academia de soslaio
O historiador e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP José Geraldo Vinci de Moraes viveu na pele a resistência de Tinhorão com a universidade. Em várias ocasiões, pôde perceber o ar de desconfiança do pesquisador em relação a esse meio. “Ele dizia que não era lido pela universidade, que o viam de uma maneira muito preconceituosa. Isso é uma meia verdade”, diz Moraes, lembrando como ele até se orgulhava desse suposto desprezo universitário. E completa: “Eu digo que é meia verdade, e não é justo com ele nem com a universidade, porque, na verdade, não era contra ele. Não é que a universidade não ligava para o Tinhorão. A universidade não ligava para o tema, para esse objeto”, referindo-se à música popular urbana.

Mas Moraes lembra que, depois – a partir dos anos 80, em áreas como a literatura e a comunicação e, dos anos 90, na história – a universidade passou a dar a devida importância para música popular e, consequentemente, para Tinhorão e outros pesquisadores do tema. “Ele era muito rigoroso com o texto, com as fontes. Do ponto de vista historiográfico, ele era incrível nesse sentido. Para mim, as maiores contribuições dele foram as questões ligadas à dimensão social e cultural da música”, diz o professor. Ele destaca os trabalhos feitos em torno da modinha e do fado, entre outros temas tratados por Tinhorão. E cita o livro Música Popular: os Sons que Vêm da Rua como o ponto de virada de sua obra. “Ali, ele dá um ordenamento àquela tematização envolvendo as bandas, os cantores de rua, os cafés, os pregões, os chopes berrantes etc., tudo aquilo que estava disperso nos outros autores e mesmo nas primeiras obras dele. Mas, nesse livro, de 1976, ele sai do universo estrito da crítica e do colecionismo e passa a fazer um trabalho de historiador de fato. Nesse livro, ele tematizou, deu ordenamento – não fica mais numa dispersão fragmentária – e apontou caminhos. Até hoje, as pessoas continuam pesquisando o que ele apresentou ali”, resume Moraes.
Raízes na esquerda
José Ramos não nasceu “Tinhorão”. Esse complemento ele ganhou de seu chefe de redação, Pompeu de Souza, em 1953. No Diário Carioca, notou que sua matéria sobre o Natal estava assinada com essa alcunha. Ao questionar, recebeu uma risada como resposta: “Tinhorão, você é um idiota. J. Ramos é nome de ladrão de galinha, tem um monte na lista telefônica e Tinhorão vai ser só você”. Mas não foi Pompeu de Souza que o inventou. O nome, que se refere a um tipo de planta tóxica, foi dado pelo secretário de redação, Everardo Guilhon. Como conta Elizabeth Lorenzotti em seu livro Tinhorão, o Legendário, ao ver o rapaz de cabeça baixa, perguntou: “Mas quem é esse cara mesmo? Zé Ramos? Zé Jardim?”. E, escolhendo o vegetal que marcaria para sempre seu interlocutor, definiu: “Zé Tinhorão”.
Aliás, essa reportagem que lhe rendeu o apelido-sobrenome demonstra bem, já no início dos anos 50, sua marca pessoal. Tendo como referência de formação o marxismo, ali é possível verificar sua inclinação de buscar os fatos dentro de contextos mais amplos e com um olhar claramente voltado aos desfavorecidos. Vamos a um pequeno trecho:
“Conversando com as crianças de vários bairros, a reportagem do Diário Carioca pôde apurar também – e talvez nisso os etnólogos não tenham pensado – que a integridade do mito de Papai Noel no RJ está sujeita a certas posturas municipais. Conforme a versão das crianças de certas vilas pobres do Botafogo e do Morro de Humaitá, ele chegaria de charrete, muito de noite… abrindo a porta deixada sem ferrolho pelas pessoas adultas.”
Essa preocupação com os mais pobres revela o caminho que percorreu como pesquisador. O historiador Eduardo Pontim, membro do Instituto Glória ao Samba, ressalta que “Tinhorão foi um voraz defensor de músicos e criadores do povo brasileiro, principalmente os dotados de profundo talento e marginalizados pelo grande público e por boa parte da imprensa de então”.

Sua interpretação da cultura recorre a conceito muito importante dentro do marxismo: as classes sociais. O compositor e escritor Fábio Carvalho escreveu uma crônica sobre um de seus encontros com Tinhorão, no habitual Bar do Raí, como ficou conhecida a atual lanchonete Amélia, na Vila Buarque, em São Paulo. Ele reproduz as explicações do pesquisador, motivadas pela discussão sobre seu livro História Social da Música Popular Brasileira, lançado em 1990:
– Então, veja bem, a cultura nos países capitalistas se constitui em culturas de classes: cultura da classe dominante e cultura da classe dominada. A cultura da elite é a cultura oficial da sociedade capitalista, é a cultura imposta. Isso porque dispõe de estruturas que garantem a sua hegemonia, como escolas, auditórios, teatros, conservatórios e meios de comunicação, além de financiamento público e privado. Além disso, em países como o Brasil, a própria cultura dominante é também dominada, pois faz parte dos negócios comerciais dos países que dominam o nosso mercado. Neste caso, a cultura dos pobres é submetida a uma dupla dominação.
Fábio, então, ao ouvir de Tinhorão que a classe média não produz cultura, restringindo-se a consumir ou apropriar-se das culturas da classe dominante ou da cultura dos pobres, pergunta-lhe sobre a Bossa Nova. Não seria uma produção própria da classe média?
– Ih, rapaz, se os caras estivessem vivos eu mandaria você perguntar pro Alfredo José da Silva, porque ele adotou o nome artístico de Johnny Alf… Ou pro Farnésio Dutra e Silva, o Dick Farney… Ou o William Blanco, que virou Billy Blanco…
Orgulho da contramão
Essa postura rendeu-lhe a distância de muitos artistas que estiveram no alvo de suas críticas. Bossa Nova e Tropicalismo mais do que todos. Ao mesmo tempo, ele surpreendia os leitores que esperavam de antemão sua acidez. Numa reportagem da Folha de São Paulo de 1999, tratando de um artista muito popular na ocasião, o agora deputado Tiririca, Tinhorão defende: “Tiririca é um artista muito talentoso e engraçado. Sua música vem de uma tradição de arte chula e rasteira que remonta à Grécia antiga. Na música brasileira, esse tipo de música existe há muito tempo. Os lundus tinham letras chulas e o povão sempre gostou de safadeza. Quem não gosta disso é a classe média, que sempre rejeitou a arte popular”.
Ele seguia surpreendendo mesmo os que foram mais alvejados por suas críticas. Se Caetano Veloso não costumava receber afagos do pesquisador, houve pelo menos um momento de exceção. Como recorda o compositor e pesquisador Celso Luiz Prudente, certa vez Tinhorão pediu-lhe pessoalmente para transmitir ao músico baiano um elogio:
– Prudente, como você é muito próximo do Caetano Veloso, caso você o veja, diga a ele que Cajuína eu gostei, que é uma música maravilhosa.
A composição a que o pesquisador se referiu na ocasião foi feita em memória ao poeta e letrista Torquato Neto. “Isso mostra o humanismo do Tinhorão. Por mais que ele tenha sido marcado por uma crítica contumaz à Bossa Nova e ao Tropicalismo, sabendo que eu e o Caetano sempre tivemos um grau de amizade muito significativa, pediu que eu falasse que Cajuína foi uma música que ele gostou”, pondera Prudente.

Sua erudição, somada ao gosto pela polêmica, rigor investigativo e destreza impressionante na escrita, criou uma espécie de lenda. O professor José Geraldo Vinci de Moraes, ao reler sua obra, também considera importante amenizar essa imagem imponente. “Percebo que, a partir de certo momento, ele se torna repetitivo nos temas, nos exemplos. E vários capítulos vão sendo reaproveitados quase integralmente em outros livros. Tudo bem ele fazer isso. Na universidade também se faz. Mas isso tira um pouco daquela aura fundadora e sempre criativa dele. Ou seja, ele é um sujeito como qualquer um de nós. E, diante das demandas, ele repete. Quer dizer, cada obra dele não é fundadora, como ele queria marcar. Cada obra vai se desdobrando.”
Outra lacuna que Moraes enxerga na obra de Tinhorão é a falta de análise musical propriamente dita. “Ele conhecia os elementos musicológicos, mas esse esforço de tratar da linguagem musical faz um pouco de falta na obra dele”, reflete o historiador.
Viver e morrer para a cultura
José Ramos nasceu em Santos (SP), em 1928. Na década de 1930, mudou-se com a família para Jundiaí, Bragança Paulista e Rio de Janeiro, onde se fixou, formou-se em Direito e Jornalismo, trabalhou e fez boa parte de sua carreira como jornalista, crítico e historiador. Em São Paulo, para onde se mudou em 1968, emprestou sua lenda à famosa quitinete na Rua Maria Antonia. Num espaço de cerca de 30 metros quadrados, acomodou um acervo gigante. Segundo Eduardo Pontim, eram “mais de 30 mil partituras, cerca de 10 mil fotografias, aproximadamente 7 mil livros, cerca de 12 mil fonogramas de 76 e 78 RPM, 4 mil LPs e muito mais. Com tanto material em sua casa, a falta de espaço era natural, o que levou Tinhorão a viver sem fogão nem geladeira e a dormir num colchão de ar”.

Esse acervo foi comprado pelo Instituto Moreira Salles em 2001. E, dos parcos 31 metros quadrados em que se acumulavam, os materiais de Tinhorão foram retirados da quitinete em várias viagens de caminhão.
Vivendo de refeições de boteco a fim de que em sua residência coubesse tudo isso, alimentou mais ainda sua figura legendária. “Todos esses esforços e privações eram feitos para que ele pudesse documentar a música popular brasileira da maneira mais fiel e verdadeira possível, numa prova de devoção e paixão pelo que fazia”, constata o historiador Eduardo Pontim.
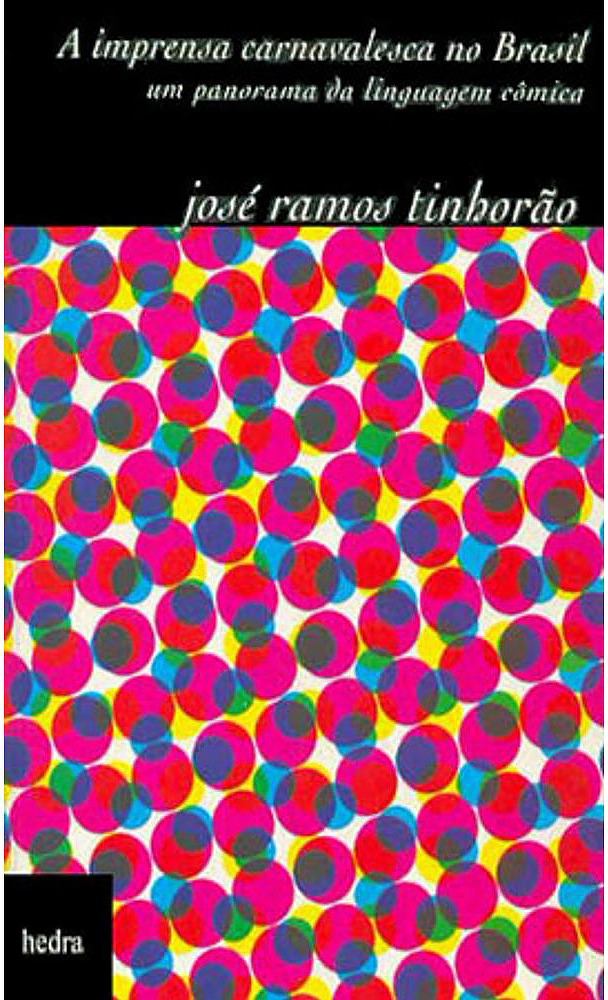
Ainda em São Paulo, fez uma breve concessão à universidade, concluindo seu mestrado em História Social na USP em 1999, sob orientação do professor Jônatas Batista Neto. A dissertação, intitulada A Imprensa Carnavalesca no Brasil, também virou livro. Foi um dos mais de 20 lançados em sua vida.
Como foi dito, tantas foram suas paixões e interesses. Mas a música, de todas, foi a que mais o marcou. Quando, da última vez, as vozes amigas se uniram para entoar O nosso amor morreu, parte dos versos da canção Rosa Maria, não era aniversário de Tinhorão. Sim, porque seus aniversários eram um acontecimento musical ao seu gosto: na calçada do bar, todos juntos, sem distinção. Desta vez, as vozes, as palmas e o surdo iam marcando uma homenagem diferente. Mas igualmente sonora e popular.






































