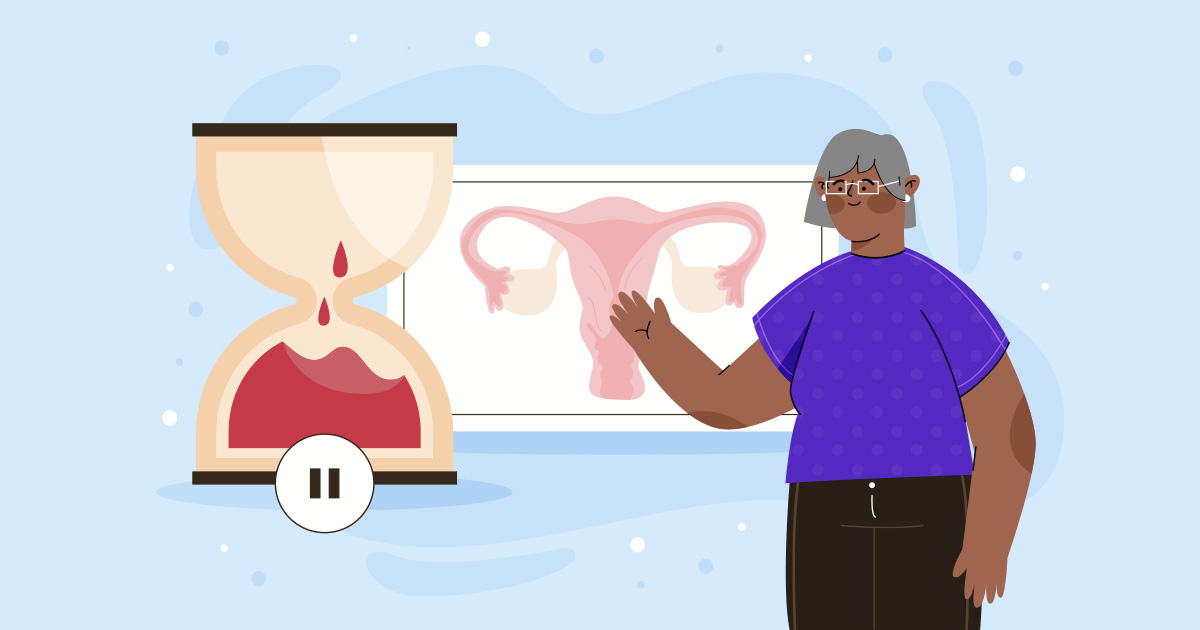Se não abertamente distorcidos, os fatos
adquirirão, na versão mitificada, dimensões apropriadas
à transmissão da ideia de desejabilidade e de superioridade da nova situação
(José Murilo de Carvalho, A formação das almas)
As falas irresponsáveis e inconsequentes de alguns bispos evangélicos e pastores de igrejas neopentecostais, afirmando que “o povo é o supremo poder de uma nação”, situando-se acima até mesmo da corte judicial encarregada de promover o controle da constitucionalidade, colocaram nos meios de comunicação um tema que até era debatido, mas apenas por sociólogos, cientistas políticos e historiadores. Trata-se do avanço, no País, da chamada “teologia do triunfalismo” – uma teoria sem fundamentos sólidos e de viés fortemente autoritário.
Entre as premissas dessa teoria, uma é no sentido de que, por serem “crentes em Cristo”, os fiéis podem e devem ser vitoriosos em tudo, superando fracassos e fraquezas físicas e espirituais. Isso abriria caminho para um cristianismo de sucessos e riquezas. Outra premissa é no sentido de que os valores religiosos devem se sobrepor a todas as esferas da vida – seja a vida pessoal e familiar, seja a vida civil, profissional e política. Aqui, o caminho aberto é o da dominação da vida de cada cidadão em todos os aspectos – e de modo impositivo.
Quais as consequências que essa “teologia” pode acarretar? Uma das mais importantes é a disseminação da alienação – um risco que tende a ser tão mais preocupante quanto mais baixo é o nível médio de educação e cultural da população de uma dada sociedade. Conexa a ela e não menos importante, outra consequência dessa teologia está no fato de que, nas sociedades em que parte significativa da população é alienada, por não ter educação e cultura, as reflexões fundamentais para o bom funcionamento da vida democrática tendem a ser bloqueadas.
Com isso, o exercício da razão é escanteado. O que prevalece é mais do que a simples recusa de admitir homens e mulheres em seus diferentes contextos culturais de pertencimento, de suas raízes comunitárias e de suas múltiplas identidades, bem como de aceitar poliarquias fora das esferas jurídico-políticas institucionalizadas. Acima de tudo, o que predomina é a unilateralidade, o fanatismo, o negacionismo científico e o voto induzido, levando segmentos crescentes da população a aderir de modo incondicional à visão única e sectária de uma religião.
Nesse universo, não existe progresso, só retrocesso. Não há diálogo, mas pregação. O que é dito pelo pregador é recebido como verdade sem evidências e sem provas. Não há objetividade, dúvida, critério, verificação e aprendizagem, mas confiança absoluta do ouvinte nos raciocínios circulares, no culto de heróis bíblicos e na exploração de emoções, sentimentos, mitos e historietas por parte do orador – entreabrindo a fé cega e a faca amolada em nome do “nosso senhor Jesus” e, claro, dos interesses muitas vezes inconfessáveis dos pastores e bispos que os invocam com suas narrativas muitas vezes farsescas destinadas a manipular o imaginário coletivo.
A tensão entre crença e racionalidade faz lembrar, por exemplo, a guerra de Canudos, travada no sertão da Bahia, ao final do século 19, e a barbárie nazifascista, ocorrida na Alemanha e na Itália durante primeira metade do século 20. São acontecimentos marcados não pelo policentrismo, por negociações e por expectativas de benefícios mútuos, mas pela hostilidade ao policentrismo, intolerância, por ameaças sucessivas e recorrentes, pelos discursos de ódio e pelo princípio de quem não é fiel à visão única e sectária da religião é pecador e, como tal, merece o inferno.
Esse é o denominador comum subjacente às falas irresponsáveis e inconsequentes de alguns bispos evangélicos e pastores de igrejas neopentecostais nos últimos tempos: um reductio ad unum marcado pela aversão à pluralidade, à diversidade, à heterogeneidade, às divergências, à tolerância e à reciprocidade de direitos; pelo desprezo às distintas visões de mundo inerentes aos valores básicos da contemporaneidade. Pela repulsa à democracia e, por consequência, ao direito igual de todos a serem diferentes. Trata-se de um direito que, encarando a diferença como valor moral e como princípio político e jurídico, implica garantias, reconhecimento e aceitação pública de grupos diferenciados dentro de um mesmo contexto político como requisitos necessários (ainda que não suficientes) para a efetividade de uma cidadania empoderada.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)