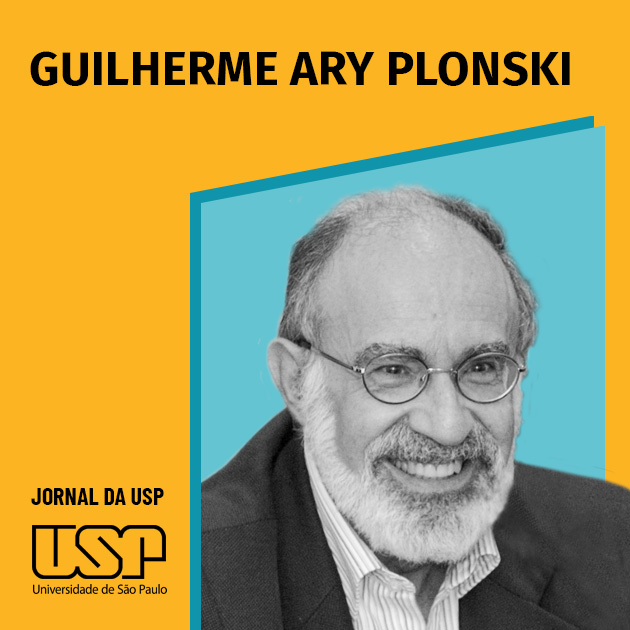É intrigante a identificação da universidade como sendo uma “torre de marfim”. Essa designação é habitualmente desabonadora. A circunspecta enciclopédia Britannica a descreve como sendo um lugar ou situação em que pessoas elaboram e discutem teorias sobre problemas (tais como pobreza e racismo) sem ter qualquer experiência com esses problemas. A menos refinada Wikipédia (versão em português) reflete uma visão ainda mais contundente, ao designar a torre de marfim como “um mundo ou atmosfera onde intelectuais se envolvem em questionamentos desvinculados das preocupações práticas do dia a dia. Como tal, tem uma conotação pejorativa, indicando uma desvinculação deliberada do mundo cotidiano; pesquisas esotéricas, superespecializadas ou mesmo inúteis, e elitismo acadêmico”.
Poderia ser compreensível a identificação da universidade como “torre”, por alusão ao nível elevado de soberba de alguns membros do seu corpo docente. Tais professores são capazes de fazer coisas esquisitas na tentativa de chegar ao pináculo da fama em sua área, assim emulando o figurino cobiçoso dos que sonhavam atingir o céu pela construção da Torre de Babel. (Qualquer semelhança com a publicação de experimentos científicos fraudulentos para ascender rapidamente na carreira acadêmica não é mera coincidência.)
Mas o que justifica ser a torre “de marfim”? O que temos ou fazemos na universidade para receber esse epíteto elefantino? Ajuda-nos a compreender a origem dessa expressão intrigante o conhecimento produzido justamente por uma instituição tida como torre de marfim emblemática, a Universidade de Harvard. O seu premiado professor Steven Shapin, que detém a Cátedra Franklin L. Ford de História da Ciência, publica em março de 2012 o extenso e fundamentado artigo The Ivory Tower: the history of a figure of speech and its cultural uses no periódico da Sociedade Britânica de História da Ciência.
O professor Shapin inicia informando que se trata de uma figura de linguagem, pois nunca existiu uma torre de marfim física. O marfim comparece em livros básicos da Antiguidade, como a Bíblia hebraica, a Odisseia grega e a Eneida latina. No Cântico dos Cânticos bíblico a torre de marfim é usada para, com outras simbologias, elogiar a formosura da mulher amada. A partir do século 12, a torre de marfim passa a ser associada a Maria, mãe de Jesus, em razão do brilho, pureza e beleza rara do material que a constitui.
Em meados do século 19, essa expressão sai do campo religioso e começa a ser utilizada primordialmente na literatura secular. Refere-se a um poeta francês que, desgostoso com o que se passava no seu entorno familiar e intelectual, isola-se numa propriedade rural, para lá continuar a escrever poesia intimista. Nas décadas seguintes, essa expressão se torna popular e se incorpora à discussão no meio artístico sobre os benefícios e malefícios da solitude no processo criativo.
Paulatinamente prevalece a argumentação de que o isolamento leva a um individualismo inconveniente. Por exemplo, surgem críticas acerbas a compositores que, descolados da sua audiência, escrevem ‘músicas de laboratório’ para si mesmos. É a emergência dos conflitos que desaguam na Segunda Grande Guerra que concretiza essa questão. A classe artística norte-americana é instada a descender da sua torre de marfim e a se engajar no esforço cultural de combate ao nazifascismo. Tratava-se de contraposição à mobilização anterior de artistas italianos e alemães para promover os abjetos regimes de Mussolini e de Hitler, da qual era emblemática a película Triunfo da Vontade, um dos filmes de propaganda política mais conhecidos na história do cinema.
Parcela expressiva do meio artístico norte-americano atende ao clamor e “desce da torre”, que passa a ser vista de forma negativa. Mas Shapin aponta a existência de defensores do retraimento, que preconizam deixar em paz aqueles que querem continuar a viver na sua torre de marfim, “produzindo versos poéticos ou fórmulas matemáticas, ou o que quiserem”. Entendem que isso propiciará melhores condições para a geração de arte e de conhecimento autênticos.
A associação da torre de marfim à academia é um fenômeno relativamente recente, iniciado em meados do século passado. Uma das razões é idêntica à que afetou o mundo das artes: a universidade deveria se engajar no esforço de guerra contra um regime (o nazifascista) que atacava frontalmente a liberdade acadêmica, ou deveria se manter como um espaço apolítico, dedicado unicamente à pesquisa livre?
Não se trata apenas de posicionamento ideológico, há também consequências práticas nas suas atividades finalísticas. O currículo deveria ser protegido de injunções derivadas das circunstâncias políticas, ou precisaria dialogar com as questões que estão na ordem do dia? A pesquisa deveria se manter básica, despreocupada com os prazos para eventual germinação de frutos tangíveis para a sociedade ampla, ou precisaria se concentrar na solução dos desafios urgentes trazidos pelo conflito global? (Qualquer semelhança com os acalorados debates posteriores sobre empreendedorismo inovador e a relação da universidade com o meio empresarial para acelerar o desenvolvimento econômico não é mera coincidência.)
As condições singulares da Segunda Grande Guerra inclinam a balança para o lado do envolvimento da universidade com os desafios imediatos, deixando assim de lado a agenda acadêmica tradicional, mais afastada das questões mundanas. A vitória dos Aliados contra as nações do Eixo leva as lideranças universitárias a envidar esforços para restabelecer uma estratégia balanceada, com espaços para acadêmicos atuarem “dentro e fora da torre”. Um conjunto de fenômenos, incluindo o expressivo aumento do alunado pela facilitação do acesso ao ensino superior para os combatentes retornados e a emergência da (primeira) Guerra Fria, faz com que as universidades norte-americanas não voltem ao estado de equilíbrio anterior.
De fato, o retorno da comunidade acadêmica à torre foi bastante limitado em termos quantitativos. A maior parte alinha a sua agenda a demandas feitas e a oportunidades identificadas no meio externo, potencializadas pela existência de fontes de financiamento. Esse movimento encontra, é fato, a ressalva de acadêmicos notáveis, que lamentam algumas consequências funestas do egresso da torre. Apontam exemplos dramáticos como o envolvimento da universidade na corrida armamentista, em particular a baseada na energia nuclear, cujo potencial sinistro havia sido evidenciado em Hiroshima e Nagasaki.
Causa perplexidade o fato de o incessante envolvimento intenso da comunidade universitária com causas relevantes para a sociedade ampla, como educação, saúde, desenvolvimento e sustentabilidade, não se traduzir em eliminação, ou pelo menos mitigação, da sua imagem de instituição ensimesmada, que habita a tal torre de marfim. Quiçá o conhecimento da evolução cultural dessa figura de linguagem, aqui sintetizada, contribua para superar a renitente associação infundada da universidade com uma edificação exótica, que nunca existiu na realidade.
Qual seria uma figura de linguagem mais aderente ao que somos ou, pelo menos, ao que pensamos que somos?
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)