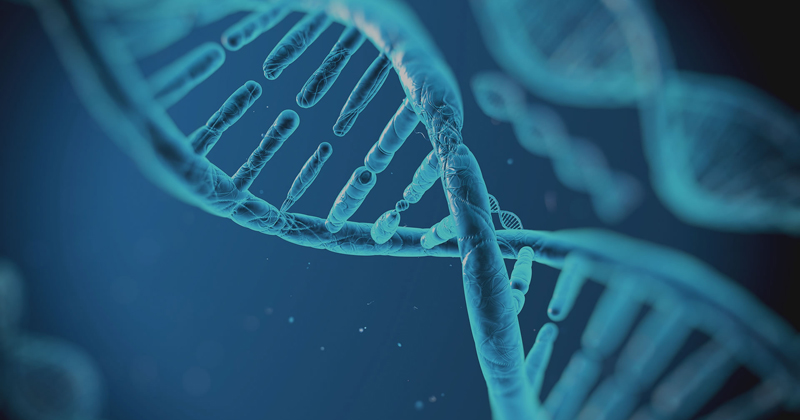Técnica de sequenciamento produz uma infinidade de dados genéticos que, depois de reorganizados,
Técnica de sequenciamento produz uma infinidade de dados genéticos que, depois de reorganizados,
podem levar à descoberta de vírus antes desconhecidos – Foto: Marcos Santos/USP Imagens
.
.
Você já parou para pensar no que acontece com as amostras de sangue e fezes depois que os exames são realizados? E com os mosquitos transmissores de doenças que são capturados e levados para serem analisados? Um pesquisador do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMTSP) da USP rodou o Brasil atrás de amostras que seriam descartadas pelos laboratórios, com o objetivo de estudá-las para descobrir novos vírus. Usando uma metodologia chamada metagenômica, o bioquímico Antonio Charlys da Costa e sua rede de colaboradores e supervisores conseguiram identificar uma variação recombinante de rotavírus, um vírus de planta em uma amostra humana e um vírus geralmente encontrado em porcos na China que estava em uma criança brasileira, só para citar alguns resultados da pesquisa.
“Tenho mais de 20 mil amostras no laboratório”, contou Costa à reportagem do Jornal da USP. Embora venham de todas as regiões, a maioria é de estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pós-doutorando do IMTSP, Costa trata cada amostra individualmente para solucionar um intrincado quebra-cabeça de sequências de dados genéticos. Ele filtra as amostras para reter apenas partículas virais, sequencia o material e processa uma enorme quantidade de dados para explorar a biodiversidade dos vírus.Pelas técnicas mais antigas de sequenciamento, a tarefa se assemelharia a procurar uma agulha no meio de um enorme palheiro. Ou, na metáfora de Costa, pescar com uma vara, já que você só identifica realmente o peixe que fisgar a isca. A metagenômica, por outro lado, seria como pescar atirando uma dinamite no lago, já que o cientista que usa esta metodologia sequencia todo e qualquer material genético que estiver presente na amostra.
“Você não precisa conhecer o que está procurando. Você vai vai jogar bombas nesse lago e vai enxergar tudo que está saindo de lá de dentro. Você vai ver o peixe, o caranguejo, sapo, vai ver o diabo, entendeu? Acaba vendo tudo”, diz o pesquisador.

A intenção da pesquisa é testar a metodologia para uso da vigilância epidemiológica. A ideia não é competir com nenhuma tarefa já realizada cotidianamente pelo Ministério da Saúde, mas sim aferir de que forma ela pode ajudar, principalmente, na descoberta de novos agentes infecciosos que circulam pelo território. “Se você não tem ideia que um vírus vai chegar, você não faz teste diagnóstico, não desenvolve nada e, aí, ele te pega de surpresa”, afirma a professora Ester Sabino, que foi orientadora de Costa no doutorado e hoje segue supervisionando sua pesquisa.
O inconveniente do método é o custo, devido ao alto volume de reagentes usados e à capacidade computacional necessária. Para contornar o primeiro problema, além de contar com uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Costa recorre a doações de reagentes por empresas. Para resolver o segundo, ele trabalha em nuvem com computadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, onde fez parte do doutorado sob orientação do professor Eric Delwart.
Biodiversidade viral
A metáfora do pescador faz sentido quando pensamos na enorme diversidade dos vírus. Os números impressionam. Um estudo publicado em 2018 no periódico da Sociedade Internacional de Ecologia Microbial (ISME, na sigla em inglês) estimou em 800 milhões o número de vírus que caem do ar em cada metro quadrado de solo do planeta todos os dias. Outra projeção vem de um estudo publicado em 2017 na revista Open Biology: na época, um grupo de pesquisadores estimou em 87 milhões o número de espécies de vírus que infectam organismos eucariotos – aqueles que possuem núcleos celulares envoltos por membranas, incluindo fungos, plantas e humanos, por exemplo.
No entanto, os números presentes nas estimativas estão bem distantes dos números de vírus que efetivamente conhecemos. Segundo um dado também de 2017, havia ao todo 4.404 espécies classificadas e reconhecidas pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral, das quais apenas 219 afetavam humanos. Em termos relativos, os vírus humanos já classificados não representam mais do que 0,0003% de todos os vírus do planeta.
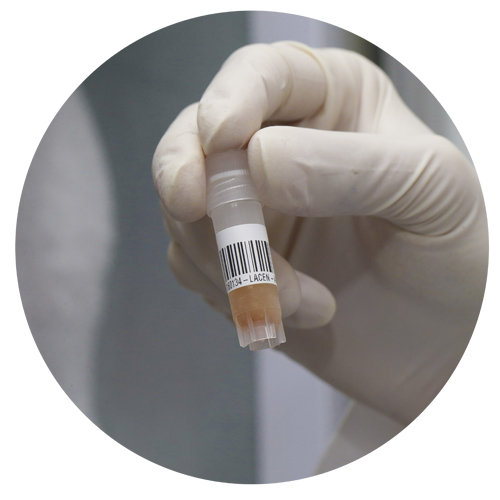
“No Brasil, a gente tem aproximadamente um terço de toda a biodiversidade do mundo. Com certeza a nossa biodiversidade viral é extremamente alta também”, pondera Costa. Ele explica que, após “jogar a bomba no lago”, obtém-se uma grande coleção de pedaços de sequências genéticas embaralhados. A tarefa, então, passa a ser a reconstrução do genoma. Isso é feito procurando similaridades em bancos de dados de biotecnologia. A comparação ajuda a descartar uma grande quantidade de sequências, como aquelas das muitas cópias geradas por uma infecção viral.
Entre os resultados recentes obtidos com essa metodologia, o pesquisador destaca a descoberta do Cucumis melo endornavirus, um vírus transmitido de mosquitos para melões, em duas amostras de fezes humanas. Os endornavírus não são conhecidos por causar doenças em humanos e não se esperava encontrá-los na análise metagenômica. Esse vírus, até onde se sabe, utiliza a membrana da célula vegetal para proteger seu material genético e as células vegetais são grandes demais para passar pela filtragem da amostra.
O achado foi publicado na revista especializada Virus Genes, mas a supervisora Ester Sabino trata o resultado com cautela. “É bem especulativo ainda. Tem tudo para a gente achar que ele estava replicando em humanos, mas é preciso achar esse vírus mais vezes, entender melhor para realmente dizer se há implicação real desse agente”, alerta a docente.
Sabino destaca outros resultados recentes, estes em parceria com colaboradores do Instituto Adolfo Lutz. Os estudos, publicados na Scientific Reports e no Journal of General Virology, mostram novas recombinações e divergências no genoma de cepas de rotavírus. “É importante para mostrar que temos que conhecer os vírus para entender se alguns deles vão escapar à vacina”, diz ela.
Novidades sobre a febre amarela
Outro fruto da parceria com o Adolfo Lutz foi a publicação, em abril, de um artigo que caracteriza o vírus de febre amarela que circulou no Estado de São Paulo entre 2016 e 2017, ano em que a doença chegou a Campinas. Embora, neste caso, não se trate de um vírus novo, os pesquisadores utilizaram o mesmo método de sequenciamento para investigar as amostras de macacos que chegaram ao laboratório de virologia do instituto naquele período.
“A nossa hipótese é que alguns Callitrix (gênero ao qual pertencem os saguis) são mais resistentes ao vírus. Eles morrem com o vírus, mas não morrem de febre amarela, porque eles não tem nenhuma lesão no fígado característica de febre amarela, que é uma necrose que a gente observa muito nos bugios, uma necrose bem parecida com a dos humanos e que acaba levando a óbito”, diz Cunha.
O sequenciamento genético revelou que a linhagem do vírus da febre amarela que circula desde 2016 é diferente da que causou epizootias – surtos da doença entre animais – no Estado em 2008. A linhagem atual se chama South American, circula na Amazônia e já havia sido identificada no Pará, bem como em países como Venezuela e Trinidad e Tobago.
“Identificamos duas linhagens distintas circulando na região Norte e uma dessas linhagens foi aquela que está causando os casos de febre amarela no Sudeste. Não sabemos ainda o motivo de somente uma dessas linhagens ter mais sucesso que a outra na epidemia”, diz Élcio Leal, professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará e um dos supervisores da pesquisa.