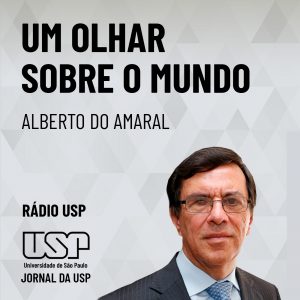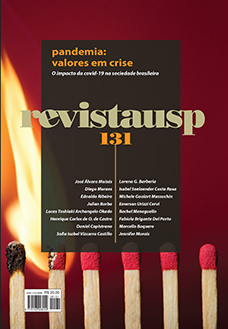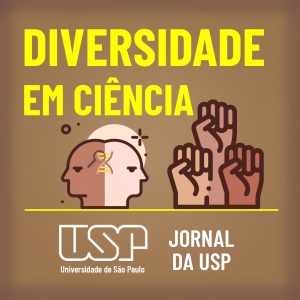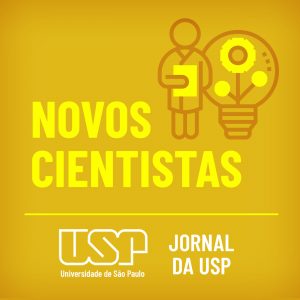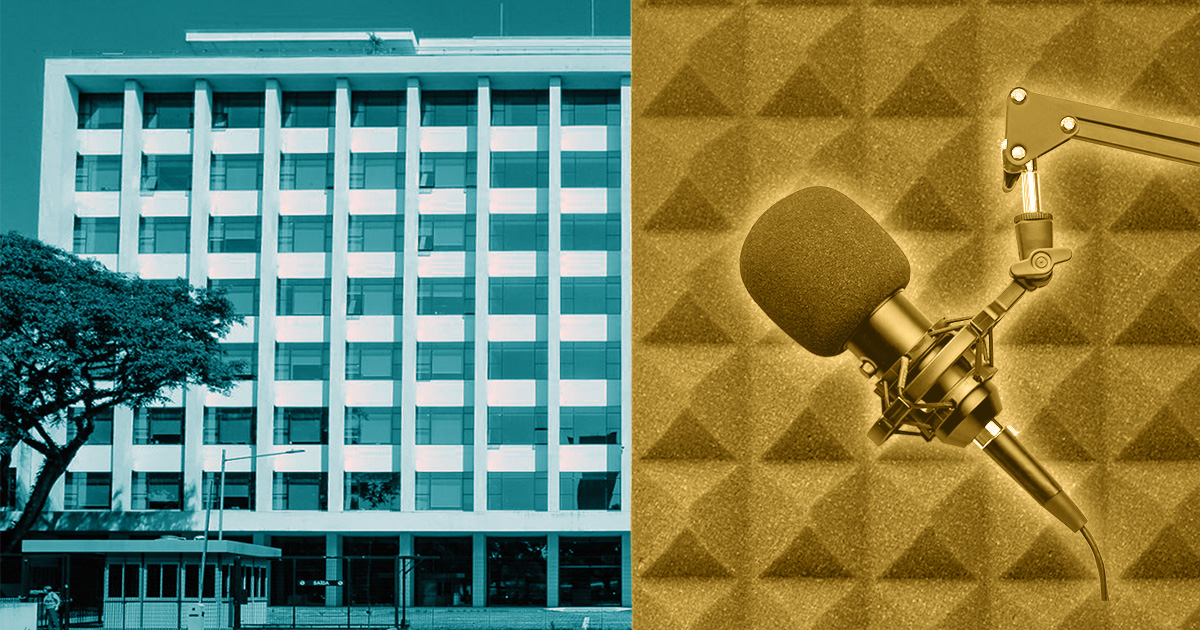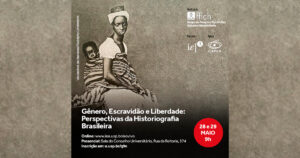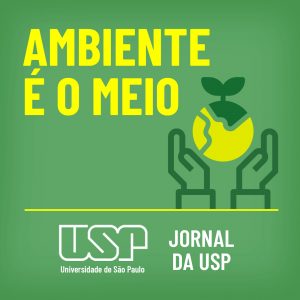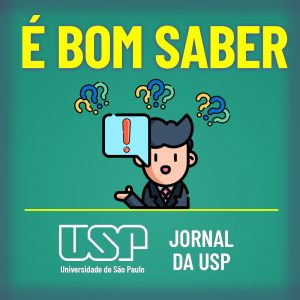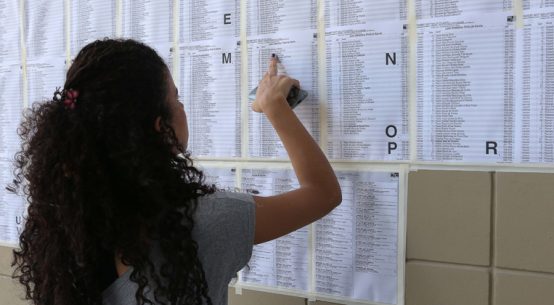Há um consenso nas áreas de sociologia da juventude, sociologia das gerações e de socialização política de que a idade constitui uma “variável chave” para a compreensão dos fenômenos políticos, visto que por meio dela é possível introduzir o parâmetro do tempo nos estudos e, portanto, das transformações da experiência individual e coletiva ao longo da existência humana.
Entretanto, o peso que diferentes idades e/ou etapas da vida exercem sobre a estruturação de fenômenos e de comportamentos políticos não suscita regularidades infalíveis ou mesmo lógicas facilmente identificáveis. No mesmo sentido, os estudos que tratam especificamente das diferentes modalidades de engajamento político tendem a apontar que uma propriedade social, seja ela qual for (idade, gênero, renda, status profissional, escolarização), não tem considerável capacidade explicativa se não for analisada a partir de uma dada configuração histórica, social e política.
Há um consenso nas áreas de sociologia da juventude, sociologia das gerações e de socialização política de que a idade constitui uma “variável chave” para a compreensão dos fenômenos políticos, visto que por meio dela é possível introduzir o parâmetro do tempo nos estudos e, portanto, das transformações da experiência individual e coletiva ao longo da existência humana
Portanto, assim como as análises sobre o modo como os jovens se relacionam com a política não podem se pautar tão somente por uma suposta especificidade da experiência juvenil em si, tampouco a análise e compreensão do modo como os indivíduos e grupos percebem e/ou se engajam na política podem se dar sem a construção de um quadro analítico que leve em consideração o período histórico, a conjuntura social e política, o pertencimento dos indivíduos em questão a uma dada classe social (e a consequente submissão a certas condições de existência material e simbólica), os gêneros, o nível de escolarização, a vivência de determinadas modalidades de socialização, bem como os efeitos de idade e das etapas da vida.
Nesse sentido, seria impossível conceber o debate sobre o tema em tela sem considerarmos que a última década, no mundo ocidental, foi marcada por (i) uma crise do capitalismo, que aumentou consideravelmente a instabilidade econômica, social e política e que, se não é claramente identificada por todos os grupos sociais, é pressentida e vivenciada por meio de transformações absolutamente concretas tais como as reformas previdenciárias e a flexibilização dos direitos trabalhistas, que atingem especialmente os jovens; (ii) pelo fenômeno do alongamento da escolarização das novas gerações, que contrasta com suas reduzidas possibilidades de inserção profissional e mobilidade social ascendente via escola e trabalho; (iii) pelo comportamento, da população em geral, de desencantamento ou pelo menos de desconfiança em relação à eficiência das democracias representativas, cujo exemplo mais facilmente quantificável em diferentes países é o aumento da taxa de abstenção nas eleições, mesmo em países em que o voto é obrigatório, como no Brasil.
No caso brasileiro, ainda é preciso considerar que assistimos, na última década, à inserção de setores pauperizados da população no mercado de trabalho formal, com acesso a crédito e ampliação do consumo, além da diminuição da miséria por meio de políticas de microcrédito, transferência de renda e valorização do salário mínimo. Tais mudanças teriam formado o que alguns autores denominam de “novo proletariado”, constituído basicamente por jovens trabalhadores que acessaram o mercado formal de trabalho ao longo da “década lulista” (2003-2013), mas que padecem com baixa remuneração, alta rotatividade e más condições de trabalho.
No que tange aos efeitos dos processos formativos sobre a constituição de disposições em relação ao mundo da política, em que pese o fato de os principais estudos continuarem confirmando o protagonismo da família na transmissão de valores e normas relativas ao mundo cívico, vale ressaltar que a juventude é o período no qual conteúdos e práticas assimilados no âmbito familiar são confrontados com novas experiências, que podem ser vivenciadas tanto em um plano microssocial (relações interpessoais de amizade, relacionamentos afetivos, vínculos associativos e religiosos) como também pelos desafios macrossociais, materializados em determinadas conjunturas políticas, econômicas e sociais nas quais os jovens estão inseridos. Desse modo, o estudo das relações entre juventude e política exige que se lance luz também sobre os efeitos de variados processos e instâncias educativas, tendo em vista compreender qual seria seu peso sobre o desenvolvimento das posições e ações políticas dos jovens.
“Esse artigo sintetiza alguns aspectos da discussão apresentada no dossiê homônimo, organizado pela autora, que será publicado no mês de abril próximo na revista Pro-posições (Unicamp).”