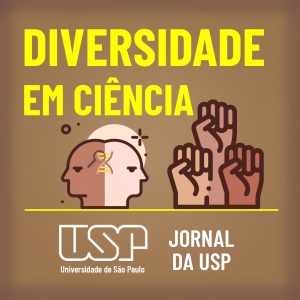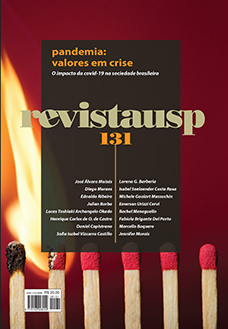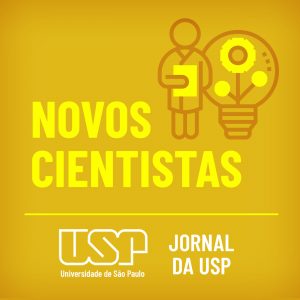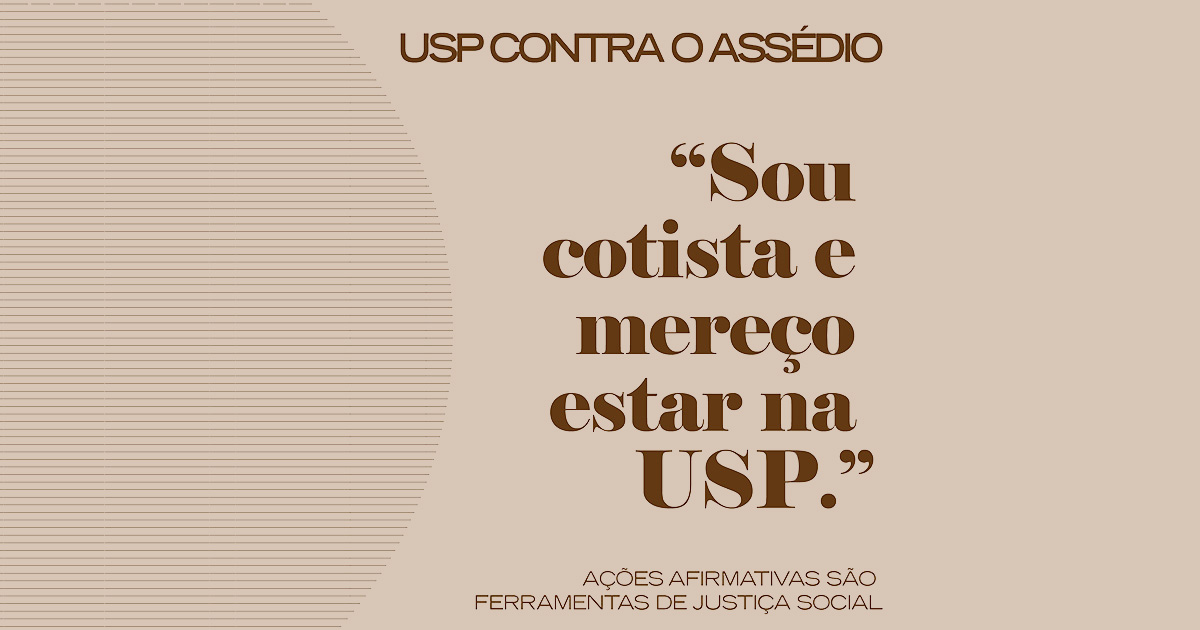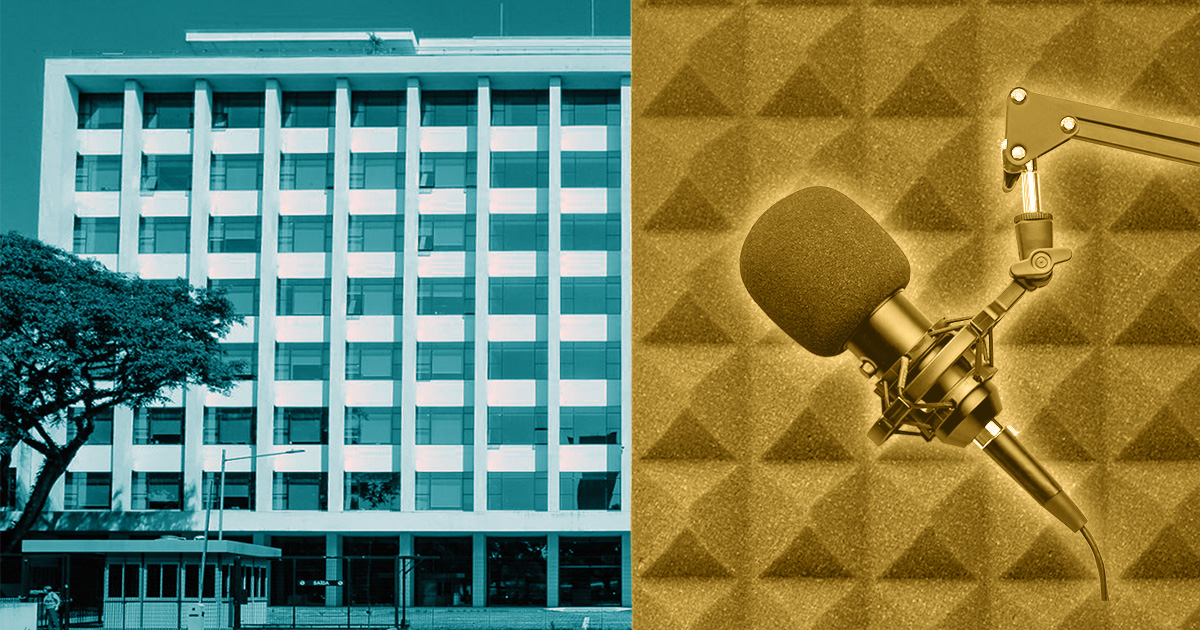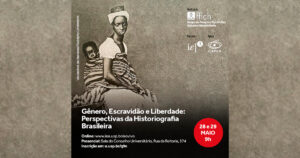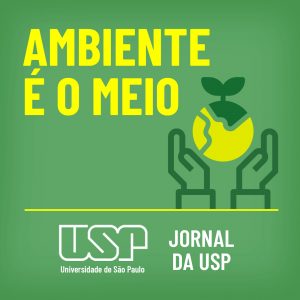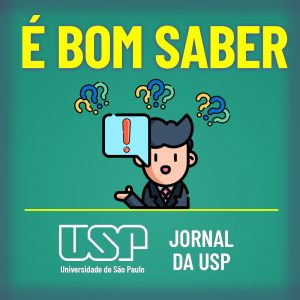O evento extremo ocorrido no Rio Grande do Sul passa para a história como uma das consequências mais drásticas do que estamos fazendo com o nosso planeta. A dimensão do evento é comparável aos grandes terremotos que levaram a milhares de mortes, destruição e deixaram em seus rastros contas enormes a pagar. A diferença é que terremotos são fenômenos naturais não ocasionados por seres humanos. Já as alterações no clima e seus efeitos são.
Ao presenciar fenômenos desta magnitude, as perguntas que surgem são: podemos amenizar esses impactos? Se sim, como?
A resposta é: evitando que os impactos sejam muito amplos e nos tornando bem preparados para quando o impacto vier, mesmo que seja um dos grandes. É preciso planejar e se preparar. No que se refere à infraestrutura, planos bem feitos e bem aplicados funcionam bem. O problema maior está em lidar com os seres humanos. Isto porque a maioria das populações apresenta uma parcela de negacionistas que atrasa a execução de planos. Esses grupos sociais se tornam corresponsáveis pelas mortes e danos que vemos em eventos climáticos extremos como o do Rio Grande do Sul.
Já houve momentos em que parecia haver esperança. Em 2008, ano seguinte ao lançamento do quinto relatório do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, a mídia vinha dando gradativamente mais atenção ao tema. Neste mesmo ano, lançamos um livro em português (supostamente o primeiro na nossa língua sobre o tema) intitulado Biologia e Mudanças Climáticas no Brasil. Como editor, pedi aos autores dos capítulos que escrevessem da maneira mais aberta (ou seja, menos científica) possível para que os textos pudessem ser apreciados por leitores não especialistas. Aquele me parecia um bom momento para avisar as pessoas sobre o perigo que a humanidade estava (e está) correndo com o aumento gradativo de gases de efeito estufa e da temperatura no planeta.
Também em 2008, e lá se vão 16 anos, escrevi um pequeno ensaio sobre as mudanças climáticas globais abordando questões relacionadas à sociedade. Relendo o ensaio hoje, vejo que havia um otimismo ingênuo de minha parte. Eu realmente achava que se pudéssemos avisar a todos, as coisas poderiam melhorar no futuro. Não foi bem assim que as coisas aconteceram nessa década e meia.
O tema do ensaio foi a negação coletiva, um fenômeno que já estava sendo estudado por preocupar os cientistas a respeito das interações com a sociedade. O intuito era: “Ei, preste atenção! Você está sendo enganado por você mesmo. A mudança climática está aí e é só começarmos a trabalhar juntos para atenuar seus impactos.”
Fenômenos de negação coletiva da ciência são tão antigos quanto ela própria. Ela afeta tanto o indivíduo como as massas. Um acontecimento bem conhecido que envolve a negação coletiva foi o surgimento do Movimento Ludista, associado ao desenvolvimento da revolução industrial na Inglaterra do final do século 18 e início do 19. O ludismo não foi um movimento político-partidário. As pessoas simplesmente eram contra o processo de industrialização e entravam nas indústrias com o intuito de destruir as máquinas. O fenômeno foi tão intenso na Inglaterra daquele período, que gerou várias mortes e até mudanças legislativas. O que hoje chamamos de negacionismo era, naquele momento, a negação da industrialização.
Sabendo de tudo isso, chegar a 2024 e ver imagens do centro de Porto Alegre totalmente inundado, o Aeroporto Salgado Filho inundado com aviões debaixo d’água e mais de 90% das cidades gaúchas afetadas, gera enorme frustração depois de tanto esforço da comunidade científica para avisar que isso poderia acontecer. Frustração também porque, em parte, o ocorrido tem relação com o negacionismo da ciência que se instalou nas populações de vários países nas últimas duas décadas.
Para compreender como chegamos até aqui, é instrutivo conhecer um pouco da história do ambientalismo. Ele tem origem em uma das principais revoluções científicas do século 20: o nascimento da ecologia. Tudo começa em 1935, com a publicação de um artigo pelo botânico inglês Arthur Tansley, cunhando o termo ecossistema. Quase três décadas depois, a publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa, por Rachel Carson, deu conta que um inseticida chamado DTT estava alterando o desenvolvimento dos ovos de pássaros e provocando efeitos ecológicos potencialmente destrutivos. A leitura de Primavera Silenciosa por parte significativa da população americana a comoveu e iniciou um processo de aceitação de que o ser humano faz parte de algo maior e precisa pensar nas relações ecológicas para manter o seu próprio bem-estar. Nascia assim um sentimento ambientalista de massa.
Mas o negacionismo estava instalado por outros meios. Entre 1960 e 1980, a Guerra Fria atingiu seu auge e o comunismo, que era associado pelo Ocidente ao perigo de uma guerra nuclear, acabou sendo associado ao ambientalismo. A consequência foi que, na era Reagan nos EUA dos anos de 1980, houve ataque até às instituições previamente estabelecidas para cuidar do equilíbrio ambiental. O pior é que o ataque veio do próprio governo.
Se levarmos em consideração o início das ideias que culminaram nos primeiros passos do ambientalismo moderno e contarmos seu início em 1935, até 2025 chegaremos ao seu nonagésimo aniversário. Similarmente ao ludismo, o ambientalismo produziu controvérsias e motivou movimentos sociais. De tão politizado, atualmente o ambientalismo ajuda a separar ideologias de esquerda e direita. As consequências são pervasivas e os movimentos de ataque se multiplicam. Um dos mais recentes é o movimento greenslash, que é contra a sustentabilidade e norteia os agricultores europeus contra um acordo agrícola entre União Europeia e Mercosul.
A negação coletiva é um fenômeno social de massa. Ela ocorre quando grupos sociais capturam uma ideia (que pode ser algo produzido pela ciência) e a transformam em uma ideologia. Uso o termo aqui na concepção neutra, ou seja, a visão de mundo de um indivíduo ou grupo social como orientação para as suas ações sociais e políticas. O processo de negação ocorre quando um outro grupo social discorda fortemente da adoção de um ideário. Nesse caso, o grupo discordante entra numa espécie de luto, um processo que normalmente se dá em cinco fases (negação, raiva, depressão, barganha, aceitação). Quando ocorre a negação, a atitude dos grupos sociais é simplesmente ignorar o que está acontecendo. Olhando da perspectiva atual, era o que acontecia lá em 2008, quando os cientistas começaram a apontar mais seriamente as mudanças climáticas como um problema e a colocar o ser humano como responsável pelos efeitos negativos que causam.
Na última década e meia, o que era negação foi gradativamente se transformando em raiva (a segunda fase). Quando isso acontece numa massa, ela procura (e encontra) lideranças e passam a atuar politicamente contra o que era, até um pouco antes, só negado. No caso das mudanças climáticas, a raiva de parte da população se voltou contra a ciência. Afinal, foi ela que produziu o raciocínio incômodo que nós somos os responsáveis pelo que pode se tornar apocalíptico.
Por vários anos, a negação funcionou parcialmente, mas o peso da ciência ainda foi suficiente para manter parte da população num estado de negação e outra parte bem maior no caminho da aceitação. Foi assim até que algumas lideranças escolhidas pelo grupo negacionista que já passava à raiva, assumiram o poder em pontos estratégicos do planeta. A raiva, neste caso, iniciou um processo de desmonte e ataque feroz à ciência, causando o desmantelamento sistemático do financiamento à pesquisa nos níveis federal e estadual.
Isto persiste até hoje, com ameaças de cortes até à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), exemplo de sucesso estrondoso da produção e aplicação da ciência para o bem-estar dos brasileiros. Além do ataque ao financiamento, o Brasil repetiu o ocorrido na década de 1980 (era Reagan) iniciando um desmonte de um sistema legislativo de proteção ambiental. Esse é o caso da “flexibilização” da legislação aplicada no próprio Estado do Rio Grande do Sul, que agora faz parte da responsabilidade pela incapacidade de resposta ao evento extremo de maio de 2024.
Como a terceira lei de Newton (a da ação e reação) não pode ser revogada pelos negacionistas raivosos, as reações geraram consequências: furacão Catrina, deslizamentos em Petrópolis e São Sebastião e agora a megaenchente em todo o Estado do Rio Grande do Sul.
O fenômeno que vimos acontecer no Estado do Rio Grande do Sul no Brasil está entre os eventos extremos mais amplos e poderosos que podem ser atribuídos em grande parte às mudanças climáticas. Este evento foi tão intenso que mesmo que tivéssemos pulado a parte da história dos negacionistas raivosos e tivéssemos organizado tudo para a chegada das chuvas, ainda não seria possível evitar o que aconteceu. Isto quer dizer que devemos, então, acreditar que não há mais o que fazer? A resposta é um redondo NÃO!
Temos bons exemplos no mundo de preparação que amenizam os impactos de eventos desse porte. Notadamente terremotos, que não têm nada a ver com as mudanças climáticas, mas têm a ver com a resiliência de populações a eventos de porte cataclísmico. O Japão, o Chile e a Califórnia são bons exemplos. O problema no Brasil é que, ao desmontar os planos e legislações que levamos anos para construir, atrasamos em muito tempo (talvez décadas) o momento de chegarmos a um nível comparável aos exemplos que dei acima.
Ainda restam alguns negacionistas raivosos que se dão ao luxo de produzir notícias falsas e atrapalhar o trabalho não ideológico nem político que está sendo feito para acudir o Rio Grande do Sul. Mas talvez em 2024 a conscientização do perigo dos eventos climáticos extremos que nós mesmos estamos induzindo no planeta nos leve a refletir melhor e passar diretamente para a aceitação, que é o melhor lugar para estarmos se quisermos evitar as mortes e a destruição que afetarão esta e as próximas gerações.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)