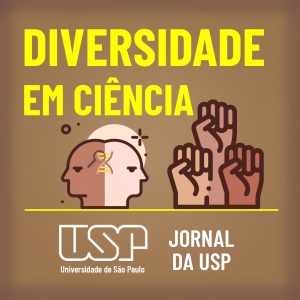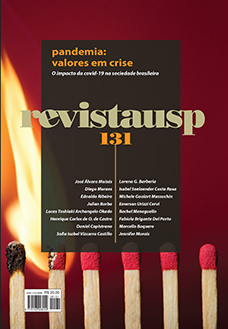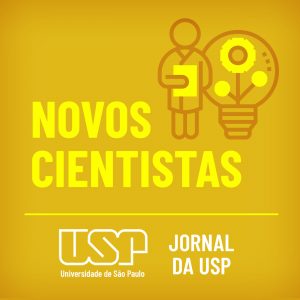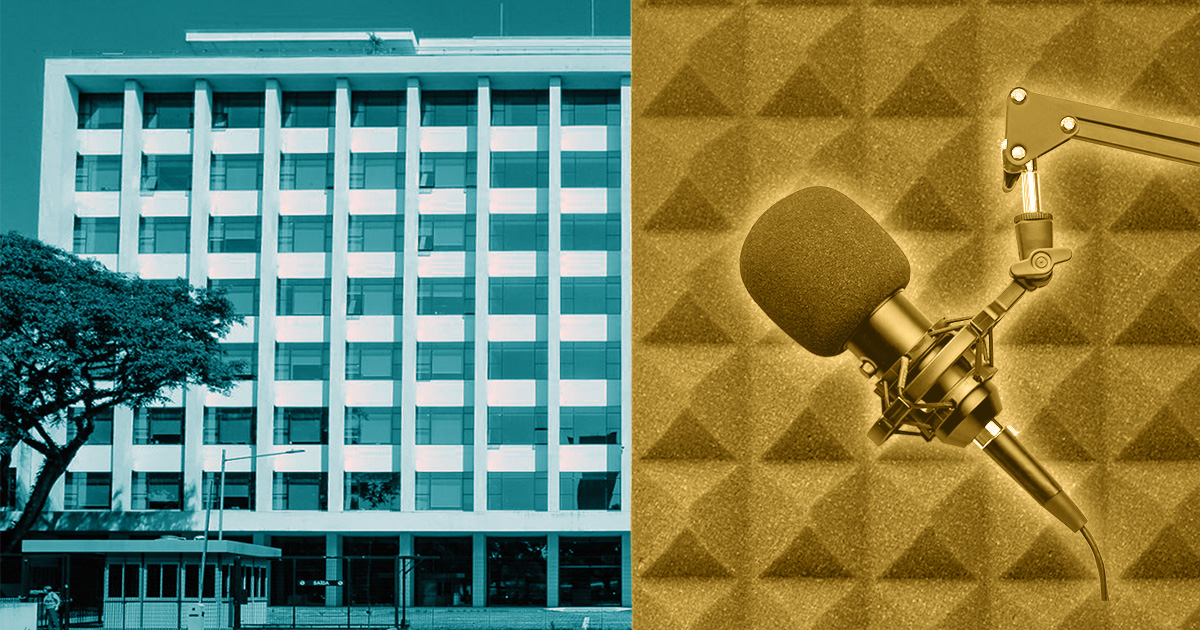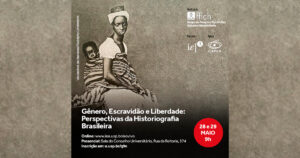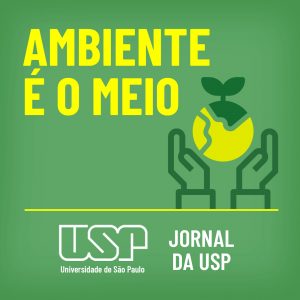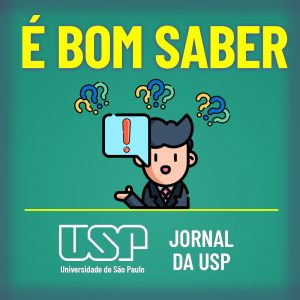Quando houve o golpe militar de 1º de abril de 1964, os movimentos sociais no Brasil e na América Latina estavam apenas ganhando o perfil e a importância do que acabará sendo sua definição sociológica e política. A conceituação de movimento social agrupava movimentos e formas de comportamento coletivo. Ainda não se vislumbrava neles uma dimensão política.
Até então, entre nós, as ciências sociais estavam voltadas para o estudo do que o historiador inglês Eric Hobsbawm definira como movimentos sociais pré-políticos. Como a revolta de Canudos e a do Contestado, temas desafiadores do ponto de vista científico. O próprio cangaço era considerado banditismo social e, portanto, movimento. Continham demandas sociais implícitas que não se enquadravam no que as ciências sociais definiam como política.
Na América Latina convulsionada, sobretudo nos anos 1960-1980, pelos golpes de Estado e pelas ditaduras militares, os canais de expressão propriamente política fechados, abriu-se espontaneamente o caminho alternativo dos movimentos sociais para manifestar necessidades e reivindicações do que também se começava a chamar de excluídos e marginalizados. Não só emergiam demandas sociais mais diversificadas do que as definidas como políticas. Surgiam, também, novos sujeitos de reivindicações sociais, nova consciência social, diversificada e, em consequência, de crítica do politicamente restritivo e, entre os intelectuais, do social e politicamente concebido.
Vivia-se os primeiros momentos do interesse de setores militares pela chamada abertura política, “lenta, gradual e segura”. O general Golbery do Couto e Silva, intelectual e ideólogo da ditadura, preocupava-se com o desvio da política para o âmbito religioso, especialmente o da Igreja Católica. A abertura era necessária para devolver a política ao “seu leito natural”.
Na Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, aberto em 1962 pelo Papa João XXIII, promoveu a atualização da Igreja, com desdobramentos significativos na América Latina.
No protestantismo, seu órgão máximo, o Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, também passava por sua atualização e influenciará decisivamente as guerras pelo fim do sistema colonial na África.
Aqui, em meados dos anos 1970, surgiram as pastorais sociais – a Operária, a Indígena e a da Terra. Elas serão decisivas na origem de movimentos sociais que mudarão os protagonistas das lutas sociais. O movimento operário, especialmente no ABC, mudará complemente as reivindicações dos trabalhadores, abrirá o caminho para o nascimento do PT e redefinirá a liderança operária, libertando-a do peleguismo.
Os trabalhadores rurais, sob situação mais opressiva do que outras categorias sociais, já haviam tido seu sindicato no governo Goulart. Mas foi na nova realidade das lutas por alternativas de expressão na ditadura que surgiu a Pastoral da Terra, em cujo bojo nasceu o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (1984). Apesar da ditadura ter feito a mudança constitucional que tornou viável a reforma agrária e criado as leis e as instituições para viabilizá-la, a reforma foi encaminhada num ritmo aquém do necessário. A prática da ocupação de terras começou em Goiás, com os boias-frias ocupando, nas fases de desemprego, as faixas de servidão das rodovias, entre a cerca das propriedades e o leito da estrada, para cultivar o seu próprio arroz, que era o mesmo cultivado do lado de dentro da cerca.
A prática do MST é basicamente a de ocupar terras que se enquadram nas previsões de desapropriação do Estatuto da Terra e nas leis para cumprir a função social definida na Constituição. O MST não invade terra, ocupa. As ocupações são precedidas por investigações sobre a situação irregular da propriedade, como nos casos de grilagem, de terras possuídas sem legitimidade. Há alguns anos, uma investigação oficial do governo brasileiro comprovou que proprietários de mais de 20 milhões de hectares de terra não podiam comprovar a legitimidade de seus títulos.
Os movimentos indígenas também surgiram como movimentos ativos, não mais como lutas reativas contra a violência do homem branco. Foram decisivas as assembleias de chefes indígenas induzidas pela Pastoral Indígena, mas também por entidades de etnólogos formados pela USP e por outras universidades.
Portanto, os movimentos sociais deixaram de ser indefinidos e ocasionais para ser movimentos orientados por um projeto pluralista e democrático de nação. Nos últimos anos, as populações indígenas tornaram-se figuras da política, das letras e da transformação social. É sociologicamente estranho, pois, o declínio dos movimentos sociais e o desinteresse das universidades por eles.
_______________
(As opiniões expressas pelos articulistas do Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)