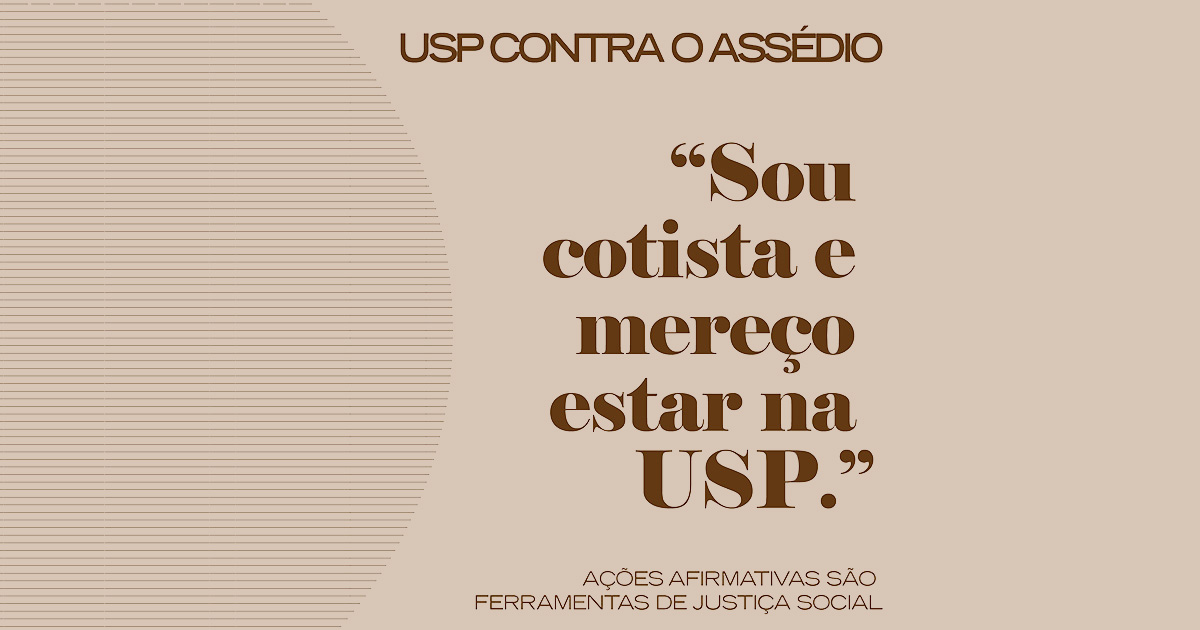Jorge Luis Borges alimentava a convicção que sugere que um bom livro é aquele que lê o seu leitor. Quem navega pelos prados das belles-lettres de alta expressividade e sofisticação nota fácil que o argentino tinha nisso muita razão. Italo Calvino, outro mestre desse tipo de concepção, do outro lado do Atlântico e desde alguma de suas cidades invisíveis, ponderava na mesma direção; e ainda ia além, afirmando ser difícil sair de um livro formidável sem a sensação de que ele – o livro – e seu autor, ao fim das contas, parecem sorrir. Sorrir um sorriso de efeito caborteiro. Cheio de malícia. Coisa de Medusa. Cheio de charme. Coisa de Mefistófeles. Quase machadiano e cheio de miradas de soslaio. Tipo oblíquas, feito ressaca. E tipo circulares, feito provocação, do início ao fim. Ora no entusiasmo ora em comoção. Ora em maravilhamento ora em estupefação.
Em altas e belas letras – aquilo que Ovídio, Quintiliano, Horácio, Cícero, Virgílio denominavam littera –, em maior ou menor grau, é – ou pode ser – sempre assim. Uma tempestade em primor. Um cataclismo ao resplendor. Um caminho sem volta ao conhecimento e ao saber.
Borges que o diga. Calvino que o demonstre.
Em outros gêneros, geralmente distantes da alta e altíssima sofisticação das belles-lettres, nem sempre essa métrica de ilustração se transforma em convenção. Em verdade, para ser justo e sincero, longe das áreas imperativamente regidas pelo peso moral da modéstia das Artes – com “a” maiúsculo e imaginação infinita – essa realização simbólica ocorre quase nunca. Nos escritos acadêmicos, por exemplo, nos últimos tempos, que beiram século, esse quase nunca deu lugar ao quase sempre para ser enfática e taxativamente nunca. Nunca ou jamais. Jamais ou nunca. Como se queira desejar.
Isso porque, desde o início da agudização da especialização da razão nos séculos primevos da Modernidade, os grandes filósofos, artistas e autores foram virando singelos acadêmicos. Auctoritas e autorais. Avessos à imitatio e ao aemulatio. Debochadores da mimese e do controle do imaginário. Blasfemadores do decoro e do cânone. E, nessa condição, foram transformando o saber e o conhecimento n’algo restrito, vazio, obscuro, sem charme. Cada vez mais útil – é bem verdade. Mas, cada vez, também, menos luminoso. E, por isso, desidratado sem expressão. Sem forma. Mesmo que eivado de conteúdo.
Nietzsche e Wittgenstein – para ficar apenas neles, maiorais em suas épocas, e não rememorar afoita e desesperadamente Vico, Kant, Hegel, Schopenhauer, Weber, Keynes e mesmo Marx – passaram a vida se deblaterando contra essa conformação. Nenhum deles acreditava nem suportava a separação da Ciência versus as Artes, do saber elaborado frente à vida, do conhecimento estruturado diante da fé, dos rigores da universidade versus os imperativos convencionais de cada tempo. Todos eles defendiam um saber com obras e uma Universidade com ação. Uma amputação desses fragmentos do Todo era, para eles e muitos outros, uma ignomínia. Uma indecência. Uma irresponsabilidade. Coisa de burocratas. Coisa de onanistas mentais. Quem sabe coisa de imaturos arlequins, histriãos, truãos, farsantes, bonifrates, crowns. Aqueles mesmos que Max Weber (1864-1920) apartou do savant – o intelectual, o professor, o sábio – e deixou bem perto do politique – o sujeito avesso aos rigores da cientificidade da veracidade da razão.
Mesmo assim, a separação prosperou e avançou muito depois da derrubada massiva dos mantos purpúreos e das negras sotainas. Ou seja, depois das Revoluções, de Napoleão e da burocratização, geralmente universitária, da produção de conhecimento e saber.
De toda sorte, o ocaso da Modernidade tudo isso revisitou.
Não foi nas trincheiras que esse ocaso começou. Mas foram nas suas ruínas que ele se acentuou. Notadamente no triênio 1942-1944 e no biênio 1944-1945. Nesses momentos, a Modernidade chegou ao seu estágio máximo de paralelismo, contradição, entropia e agonia. Auschwitz-Birkenau, campos de concentração. Eis o produto da Modernidade e de sua racionalidade. Se nada disso bastasse, vide o sadismo sem paralelos plasmado nas quedas de Berlim, Tóquio, Hiroshima e Nagazaki. Tudo, à rigor, fruto da Modernidade.
Sob a sua hoste, nunca, portanto, o ser humano fora tão conscientemente marginal. Vide as centenas de milhares de pessoas queimadas vivas nas ofensivas ocidentais de liberação. Lembre-se dos milhões de outros – 60, 70 80 milhões – que tiveram a sua vida injuriada para nunca mais reabilitar.
Como seguir endossando essa Modernidade? Uma Modernidade de razão iluminista. Quem especializava o saber, mas que retirava dele toda fé e todo o coração? Como seguir endossando tudo isso depois das monstruosidades das guerras totais?
Moralmente, não dá para endossar.
Adeus, então, Modernidade?
Se fosse assim, seria fácil.
Mas, não: não foi assim.
O arranjo encontrado foi a Pós-Modernidade. Com o prefixo “pós” bem situado para indicar o ancoramento do após no antes. Fazendo-se, assim, um eterno mal-estar. Da agonia da Modernidade ao mal-estar da Pós-Modernidade. Tudo porque o traumatismo da longa noite escura – leia-se: das guerras totais de 1914 a 1945 –, ao produzir o mal-estar da civilização, também vandalizou todas as referências modernas e, no contrapelo, foi incapaz de colocar outras no lugar.
Ocorreu, desse modo, nesses tempos de tormentas – e quase ninguém ousa mencionar –, um verdadeiro sinistro mental e moral eternamente irremediável. Nunca se viu tanta selvageria entre os homens nem tanta brutalidade entre iguais. Mas não apenas nos campos de batalha. Mas na vida em geral e como um todo. Desse modo, todos os campos da existência humana foram, assim, violados, violentados, deturpados. Como decorrência, nenhum corredor da produção de Ciência, Artes, conhecimento, informação e saber sobreviveu incólume. O impacto de tudo isso, portanto, sobre a Universidade foi – e continua sendo – imenso. Todos os seus códigos e decoros, produção de conhecimento e saber foram, por tudo isso, gravemente lesionados.
Por essa razão – e não é de se estranhar – que, após o dilúvio de tragédias do Apocalipse de 1914-1945, os anos que se seguiram deram vazão à afirmação do fim das certezas, das verdades, dos fundamentos universais, dos critérios absolutos. Era o último suspiro da Modernidade e a inauguração da Pós-Modernidade. Os anos eram 1950-1970. Um verdadeiro momentum. O momentum de uma inclemente hecatombe epistemológica sem concessão. Onde nenhum paradigma suportou sem, ao menos, trincar e nenhuma área do saber permaneceu viva sem rachar. Era a crise geral de paradigmas. Onde nada nas Ciências ficou em pé e, por isso, tudo precisou remoçar.
A gravidade disso tudo foi tamanha que inclusive a suspeição de Einstein sobre a disposição de Deus em jogar dados com o universo perdera a totalidade de sua relevância. Descobriu-se – ou se relembrou –amargamente e se popularizou que Deus sempre foi onisciente, indiviso e insondável. Sendo assim, por lógica, era impossível prever as suas jogadas tanto quanto a sua intenção em jogar. Dito francamente e sem parábolas, esse “simples” (re)descobrimento levou a pique todos os profundos fundamentos da Física Clássica, que, à rigor, fundamentou a Ciência Moderna, legitimou a Modernidade e justificou a especialização universitária do conhecimento e do saber. O rei, assim, ficou nu e as suas concubinas, incapazes de cobri-lo. A Teoria da Relatividade e a Física Quântica esmagaram de 80 a 90% de tudo que cientificamente se fez, imaginou e pensou ao menos desde Nicolau Copérnico (1473-1543) e Giordano Bruno (1548-1600) até chegar aos experimentos de Niels Bohr (1885-1962). Quem tiver alguma dúvida – por mínima que seja – que volte com perícia aos feitos de Werner Heisenberg (1901-1976) e/ou de Robert Oppenheimer (1904-1967).
Dito sem retoque nem interjeição, a inquestionável hecatombe epistemológica da viragem da Modernidade para a Pós-Modernidade tornou Newton, Galileu e Descartes – distintos pilares da Ciência Moderna como um todo e da Física Clássica em particular – anacrônicos, estéreis e sem razão. Assim como Darwin – e muito do materialismo de Marx – também.
Não dá para tomar consciência de tudo isso sem se espantar. Praticamente todo o saber humano fabricado sob a Modernidade precisou ser revisto e se revisar. Nessa, portanto, imoderada revisão, virou, assim, banal se reconhecer que o observador altera a natureza do objeto observado. Que o experimento da dupla fenda deu e dá a tudo isso razão. Que o bóson de Higgs, do recentemente falecido professor Peter Higgs (1929-2024) segue cientificamente uma verdade. Que infinitos corpos, assim, podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Que existe o vácuo quântico. Onde tudo é onda e vai emaranhando. E que isso tudo é Ciência e não cabala nem misticismo. Ciência nova. Nova Ciência, com sob novos paradigmas.
Sim: impressiona, emociona e desconcerta.
E desconcerta ainda mais porque o impacto de tudo isso sobre a Universidade foi devastador. O novo saber sobre o conhecimento e o novo conhecimento sobre o saber simplesmente esquartejaram todos os preceitos iluministas da cisão de Ciência versus as Artes, Artes versus vida, rigor acadêmico versus fluição de conhecimento e saber. Consequentemente, todos os seguimentos universitários precisaram internalizar essa nova realidade, desses novos tempos, dessa nova forma de fazer e pensar Ciência. O mal-estar gerado por tudo isso foi – e continua sendo – extraordinário. A incerteza tomou conta de praticamente todas as áreas do saber de modo a ninguém nem nenhuma área universitária conseguir grassar em imobilismos. Era o momentum 1950-1970. Um momento rude e implacável para os produtores de conhecimento e saber. Um momento onde muitos simplesmente caíram em desespero por literalmente não conseguir saber o que fazer.
Que fazer?
No espaço universitário das Ciências Humanas e das Humanidades – áreas, desde o Setecentos, tidas como “moles” por manque de aderência contundente aos preceitos de Verdade, com “v” maiúsculo, impostos pela Ciência Moderna – uma tentação de cientificidade tomou conta de praticamente tudo e de todas as áreas desde a Filosofia às Letras à História à Geografia à Economia à Sociologia à Antropologia e afins. Nada, desse modo, escapou dessa tentação. Nem mesmo as convenções muito antigas feito aquelas que ao menos desde Heródoto, Quintiliano e Aristóteles sempre entenderam que a Filosofia, as Letras, a História (entre outras) eram irmãs das Artes, namoravam a totalidade e granjeavam abarcar fragmentos do infinito. Nada, mesmo dessas convenções, restou. O que causou avarias irremediáveis no interior das Ciências Humanas e das Humanidades.
Discorrer sobre as particularidades dessas avarias imporia discussões exaustivas, em outros níveis e em outros lugares. Aqui e por agora talvez seja somente relevante acentuar que, do martírio da Modernidade ao frescor da Pós-Modernidade, a integralidade dos fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicas de todas essas áreas foi violentamente canibalizada e, frente a isso, todas essas áreas, por razões existenciais, precisaram vivamente reagir. Dessa maneira e de modo sistematizado, o conjunto das Ciências Humanas e das Humanidades se organizaram em torno de duas estratégias: a) fugir da discussão ou b) garimpar mecanismos racionais de compensação.
Quem não fugiu, buscou refúgio num conceito chamado de interdisciplinaridade.
Ou seja, partindo-se dos imperativos da Física Quântica que aduzem que tudo é onda, tudo está emaranhado e múltiplos corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, então tudo é interdisciplinar. E sendo interdisciplinar também poderia ser multidisciplinar e transdisciplinar.
Inter, multi e trans. Eis a estratégia de compensação e o lugar de refúgio dos praticantes das Ciências Humanas e das Humanidades a partir do momentum 1950-1970.
Tudo bem. Muito interessante. Sem problemas.
Até que um baiano, academicamente experimentado, nascido em Brotas, formado em Salvador e tornado doutor em Strasbourg, na França, após viajar o mundo e contrastar consciente ou inconscientemente essa estratégia com variadas audiências, chegou a uma ponderação singela e desconcertante que afere o seguinte: não existe inter, multi e transdisciplinaridade sem disciplinaridade.
Ou seja, não existe relação entre disciplinas sem a fundamentação das disciplinas. Portanto, não existe diálogo disciplinar sem a afirmação da identidade disciplinar. Filosofia, Letras, História, Geografia, Economia, Sociologia, Antropologia (e outras) dentro da Universidade são áreas/disciplinas diferentes. Com códigos e decoros diferentes. Que para seriamente se relacionar precisam, antes de tudo, se afirmar. Uma afirmação que só se realiza através aggiornamento de natureza ontológica, epistemológica e metodológica.
Dito sem meias palavras, esse brasileiro, baiano, nascido em Brotas dinamitou a estratégia de compensação empregada pelas Ciências Humanas e pelas Humanidades ao evidenciar que o recurso ao refúgio da inter, multi e transdisciplinaridade era, em verdade, uma tentativa de fuga da afirmação ontológica, epistemológica e metodológica de cada uma das áreas.
O nome desse brotense ilustre é Milton de Almeida Santos (1926-2001) e essas suas ponderações simplesmente reabilitaram o mal-estar de se produzir saber e conhecimento depois do momentum 1950-1970. Sendo frio e direto, elas indicavam que ser academicamente honesto envolvia essencialmente uma meditação sobre método.
Quem seguiu relutando a essa meditação encontrou na noção de complexidade de Edgar Morin – nascido em 1921 e ainda vivo – outra estratégia de compensação.
Ou seja, novamente partindo-se dos imperativos da Física Quântica que aduzem que tudo é onda, tudo está emaranhado e múltiplos corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, então tudo é complexo.
Mas, novamente, não frutificou.
E, agora, como refúgio, os praticantes das Ciências Humanas e Humanidades preferiram migrar para ilhas. Ilhas cada vez mais distantes e difíceis de se penetrar.
Nessas ilhas, as questões de método viraram mistérios tão bem guardados que nenhum estrangeiro – leia-se: alguém vindo de outra área – consegue decifrar. Desse modo, o diálogo sincero e verdadeiro entre antropólogos, museólogos, economistas, historiadores, politólogos e afins virou quase impossível. O tipo de saber produzido por cada um deles ficou mais e mais sofisticado, complexo e acadêmico. Acadêmico, talvez, até demais. Tanto que os seus mecanismos de verificabilidade viraram praticamente insondáveis para quem não é da área.
Deixando essas tormentas de lado, o único aspecto aferível da produção de conhecimento e saber no interior das Ciências Humanas e Humanidades que restou foi aquele da formalização dos resultados. Ou seja, da comunicação – leia-se: da escrita – do conhecimento e do saber. E, nesse sentido, a Modernidade e a Pós-Modernidade contribuíram igual para o afastamento da Ciência das Artes. Ou seja, da comunicação por belles-lettres.
No mundo inteiro foi assim e no Brasil não foi diferente.
No plano geral, desde que dilemas gerais da viragem da Modernidade à Pós-Modernidade chegaram às universidades brasileiras que o martírio da cientificidade passou por aqui também a imperar. Praticamente toda a agonia de fora ganhou, por aqui, feições nacionais. Tome-se, por exemplo, o caso da Economia – uma das áreas mais cientificamente relevantes do espaço das Ciências Humanas e das Humanidades – e examine-se a sua relação com a comunicação de resultados.
Francamente, no horizonte de uma ou duas gerações após o momentum 1950-1970 chegar por aqui, pelos campi, o esforço intelectual da comunicação com precisão, alguma imaginação e parcelas de ironia foi esmaecendo até quase desaparecer. Nesse sentido, aquele sorriso matreiro das frases de um Celso Furtado (1920-2004), por exemplo, começou a rarear e aquela ironia desconcertante das manifestações de um Roberto Campos (1917-2001) desapareceu para nunca mais voltar. Isso porque, adicionada à hecatombe epistemológica global, a inclemente pasmaceira de autoenganos que o politically correct universitário recentemente mobilizou acabou por ostracizar toda a relevância artística de toda essa gente. No mesmo diapasão, as convicções implacáveis – corretas e equivocadas – de uma Maria da Conceição Tavares (1930-2024) viraram démodé. Isso porque, além da pasmaceira do politically correct, a tentação woke começou a literalmente lobotomizar trabalhos, autores e intenções. Por conseguinte, passou-se a se menosprezar o peso da retórica – e, portanto, das Artes – no convencimento. Por tudo isso, aquele charme tipo British de um mestre feito John Maynard Keynes (1883-1946) passou a ser, no Brasil, quase condenado. De modo que a sensibilidade genuinamente literária de gente da qualidade artística de André Lara Resende, Pérsio Arida, Paulo Nogueira Batista Jr. e Eduardo Giannetti da Fonseca passou a ser tratada como “não ciência”, “empulhação”, “confusão”.
Impressiona, mas tem sido assim.
Críticos de pouca fé.
Há saídas?
*
PS: uma versão diferente e ampliada deste artigo saiu originalmente publicada na Revista USP (n. 141, pp. 175-186, 2024) como Semeando futuros e retocando passados.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)