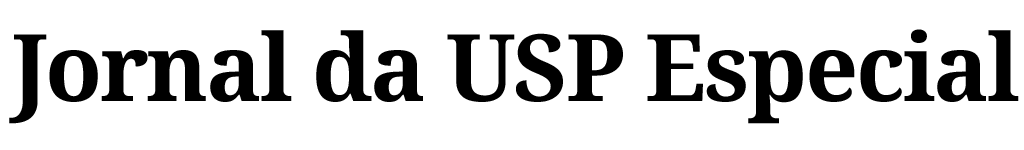Foto: Ivo Gonçalves/PMPA - Flickr CC
Quando éramos exóticos: futebol e alteridade
.
José Paulo Florenzano
resumo
O presente artigo discute a relação entre futebol e alteridade através da noção de “equipe exótica”, associada historicamente aos selecionados africanos, muçulmanos, mas também brasileiros. Esta categoria adquire significado mais preciso uma vez situada em relação à técnica do corpo, à tática do jogo e à composição étnico-racial do time. Vista por esse prisma, ela denota tanto extravagância estética quanto desorganização tática; aspectos vinculados a uma identidade cultural considerada “estranha” à norma europeia do futebol científico.
Palavras-chave: equipe exótica; alteridade cultural; futebol africano; atletas muçulmanos; Copa do Mundo.
abstract
This article discusses the relationship between soccer and otherness as regards the idea of "exotic team", which is historically associated with African and Muslim teams, and also with Brazilian squads. This categorization has acquired a more clearly defined meaning as it has been linked to body technique, game tactics and ethnic and racial makeup of teams. From such perspective, it indicates both aesthetic extravagance and tactical disorganization; aspects associated with a cultural identity seen as "alien" to the European standard scientific soccer.
Keywords: exotic team; cultural otherness; African soccer; Muslim athletes; World Cup.
As atenções na Copa do Mundo encontram-se in- variavelmente voltadas para o seleto grupo dos selecionados nacionais que já conquistaram o cobiçado troféu. Às demais equipes do torneio, egressas da periferia do jogo, atribuem-se comumente o papel de coadjuvantes, pouco mais, pouco menos. Não obstante, a cada quadriênio também se aguarda com sofreguidão o surgimento de uma equipe redentora capaz de roubar a cena, encantar o público e arrebatar o título, ou, no mínimo, inscrever um valor diferencial na estrutura simbólica do futebol. Nesse sentido, na Copa de 1982, Sócrates registrava em seu diário de campo as reflexões formuladas após uma partida vista com os colegas na concentração: “Assistimos ao jogo Kuwait x Checoslováquia e vibramos muito, não só com a exibição do Kuwait, mas, principalmente, pela surpresa que as equipes 'exóticas' estão proporcionando”(1).
De fato, houve um momento ao longo dos anos 90 em que as esperanças de renovação estiveram depositadas nas “equipes exóticas” a que se referia Sócrates. A categoria em tela adquire significado mais preciso uma vez situada em relação à técnica do corpo, à tática do jogo e à composição étnico-racial do time. Posta nesses termos, ela denota extravagância estética e desorganização tática, associadas a uma identidade cultural vista como “estranha” à norma europeia do futebol científico. Os três aspectos não precisam estar necessariamente reunidos para caracterizar como exótica uma seleção, cujo desempenho pode suscitar escárnio e desejo, ambiguidade imanente ao discurso do estereótipo, conforme Homi Bhabha (2007) (2). A aludida noção engloba tanto as formações que se destacaram nas Copas do Mundo, como a do Brasil, quanto as que não obtiveram sequer uma vitória ao longo de suas edições, como a do Zaire. Elas podem não reunir o capital futebolístico suficiente para atuar em termos competitivos ou, inversamente, possuir determinados atributos em excesso, mas desbaratá-los devido ao uso considerado irracional. (3) Vistas sob o prisma do estereótipo, as “equipes exóticas” definem-se também pela ausência de autocontrole emocional, “patologia” manifestada em graus diversos.
O presente artigo trata do “exotismo” atribuído aos conjuntos egressos das margens do universo futebolístico, evocando, como marco temporal da análise, de um lado, as esperanças suscitadas pela estreia da África Subsaariana na Copa do Mundo de 1974, de outro, a reversão das expectativas em relação ao potencial transformador dos selecionados considerados periféricos às vésperas da Copa do Mundo de 2018.
A estreia da África no prestigiado evento remonta à participação do Egito em 1934 na Copa da Itália. Reduzida a uma única partida, marcada pela derrota por 4 a 2 para a Hungria, ela parece ter se apagado da memória dos mundiais. A referida região só voltaria a figurar na competição na Copa do México, em 1970, representada desta feita pela seleção do Marrocos, que havia adquirido a primeira vaga concedida pela Fifa ao continente africano. Essa edição assinalava, também, a presença única da seleção de Israel ao longo da história da competição. Mas as duas equipes, eliminadas ainda na fase de grupo, não se cruzaram em campo. A rigor, judeus e muçulmanos jamais se enfrentaram nas lutas simbólicas proporcionadas pelos mundiais. Já no que concerne especificamente à África Subsaariana, conforme salientado acima, ela viria debutar na edição seguinte realizada na então Alemanha Ocidental.
Cercados de imensa expectativa, os “Leopardos” – como se autodenominavam os atletas zairenses – entraram em campo sob o peso de uma tripla responsabilidade, a saber: 1) trazer honra e glória aos torcedores do Estado-nação encravado no coração da África; 2) realizar a propaganda política do ditador Mobutu Sese Seko, que utilizava a presença da equipe na copa para se fortalecer no plano interno e se promover no âmbito internacional; 3) legitimar, mediante uma campanha convincente, a reivindicação dos países africanos por mais vagas na competição. Convenhamos, não era pouca coisa para uma esquadra composta de atletas amadores, submetida à pressão política de um regime arbitrário e sujeita à intervenção externa dos dirigentes esportivos do país. A derrota por 2 a 0 para a Escócia logo na estreia assinalava um duro revés para os interesses em jogo.
A cobertura da imprensa brasileira, embora realçasse aspectos positivos como a atuação “eficiente” do ponteiro esquerdo Kakoko, de modo geral enfatizava o que parecia ser o fator explicativo da fragilidade não somente dos zairenses, mas, generalizando o argumento, de todos os africanos. Segundo ela, faltava-lhes a “mínima noção de marcação”.(4) Essa percepção, com efeito, alcançaria dimensões dramáticas na segunda partida, quando os iugoslavos, sem se intimidarem com a efígie do animal totêmico estampada na camisa dos atletas adversários, infligiram aos “Leopardos” o placar superlativo de 9 a 0. O resultado, por sua vez, recebia da crônica brasileira uma avaliação não menos implacável:
“A seleção do Zaire foi um grupo de jogadores correndo desordenadamente atrás da bola ou do adversário, sem o menor sentido tático. Tecnicamente seus jogadores apresentaram um nível tão baixo, que chegaram a ser ridicularizados pelos iugoslavos e pelos torcedores”.(5)
Colocada sob o signo do “ridículo”, a derrota do Zaire golpeava as esperanças da torcida, os interesses do ditador e as reivindicações da África. Ela nos coloca ainda hoje o desafio de propor uma explicação menos eivada de estereótipos e clichês. Uma pista importante para a formulação de uma nova hipótese interpretativa encontra-se nos comentários feitos por Blagoja Vidinić. De acordo com o treinador iugoslavo da equipe do Zaire, depois da estreia contra a Escócia, os dirigentes “acharam” que ele havia adotado um esquema “muito defensivo”, contrariando o estilo ofensivo dos “Leopardos”. Conforme acreditavam tais dirigentes, com uma postura mais arrojada contra a Iugoslávia os atletas zairenses “poderiam até vencer o jogo”. (6) Desse modo, no afã de satisfazer os cálculos políticos do ditador, a cúpula esportiva interveio no esquema tático da equipe. As intromissões não pararam por aí. Durante a partida, logo após o terceiro gol dos adversários, os interventores determinaram a substituição do arqueiro Kazadi pelo reserva Tubilandu. (7) Alteração inócua, decerto, incapaz de deter a marcha dos gols que se sucediam numa quantidade vertiginosa. Mobutu Sese Seko, “inconformado com a vexatória derrota”, lançava sobre a delegação uma vaga “ameaça”, não especificada, caso a atuação desastrosa se repetisse no último compromisso contra o Brasil.(8)
O jogo-catástrofe do Parkstadion Gelsenkirchen passaria à história como fruto da inexperiência dos atletas amadores do Zaire, assim como ilustração emblemática do estágio infantil em que se achava o futebol na África. Todavia, a seleção do Marrocos que disputara a Copa do México, em 1970, sob a direção do mesmo Blagoja Vidinić, também era formada basicamente por atletas amadores sem experiência internacional. E, mesmo assim, ainda que não houvesse obtido qualquer vitória, não foi protagonista de nenhum vexame. As razões do desastre que atingira os “Leopardos” devem, portanto, ser buscadas alhures. Elas nos remetem às ingerências indevidas dos dirigentes esportivos no trabalho do treinador iugoslavo e, sobretudo, às pressões exercidas pelo autocrata do país, interessado em instrumentalizar o selecionado nacional como trampolim midiático. A queda no “extremo ridículo”, porém, vitimava todo um continente. A indagação formulada pela revista Placar, não resta dúvida, refletia a posição dos formadores de opinião tanto na Europa quanto na América do Sul: “Como levar a sério uma seleção igual à do Zaire?”.(9)
Se, no entanto, a participação do Zaire na Copa de 1974 foi um balde de água fria nas expectativas acerca do futebol africano, contribuindo de quebra para manter congelado o número de vagas concedidas ao continente, o desempenho de Camarões na Copa de 1990 despertaria novamente as esperanças de renascimento do jogo, elevando ao mesmo tempo o tom da reivindicação por mais espaço na competição. De fato, o contraste não poderia ser maior quanto ao impacto provocado pelos dois selecionados. Enquanto o primeiro transmitia a sensação de uma defasagem incomensurável entre o centro e a periferia do sistema esportivo, o segundo suscitava a impressão de uma desejada saída do processo de burocratização no qual o futebol de espetáculo parecia ter imergido.
A abertura da Copa de 1990, como se sabe, colocou frente a frente Argentina e Camarões. A diferença de forças permitia prever uma estreia tranquila para os detentores do título, cuja equipe, ademais, contava com Maradona, à época, o melhor atleta de futebol em atuação no mundo. O adversário, conquanto não fosse de todo desconhecido, uma vez que havia disputado a competição da Fifa em 1982, não suscitava nenhuma preocupação especial. Todavia, para a alegria incontida do narrador da TV Globo Galvão Bueno, que transmitia para o Brasil o jogo de abertura ao lado do ilustre comentarista, Pelé, Camarões venceria os argentinos pelo placar de 1 a 0, gol do jovem atacante François Omam Biyik. Consumava-se, dessa maneira, a primeira vitória de uma seleção da África negra na história das Copas do Mundo! (10)
Assim que soou o apito final do árbitro, os quase 80 mil torcedores presentes ao estádio Giuseppe Meazza, em Milão, aplaudiram de pé o feito histórico dos camaroneses, ao mesmo tempo em que tripudiavam sobre os argentinos, em especial Maradona, desafeto dos milaneses por conta da identificação do jogador com os napolitanos. Subjacente às manifestações do público, não resta dúvida, existia a rivalidade acirrada entre o Norte e o Sul da Itália, caracterizada por um intenso conflito de identidades, expresso na máxima propagada pelos extremistas setentrionais segundo a qual “de Roma para baixo já era a África”. Nos vestiários após a derrota, os jornalistas indagavam a um Maradona abatido as razões do apoio entusiasta do público por Camarões. Hábil com as palavras tanto quanto com os pés, ele rebatia de primeira a provocação, conferindo à resposta um efeito irônico: “Não sei, mas essa é a prova de que os italianos não são racistas”. (11)
Enquanto Buenos Aires entrava em estado de choque em virtude do resultado, os analistas esportivos procuravam decifrar o significado do que haviam acabado de presenciar no palco de abertura da Copa. De imediato, a partida foi logo equiparada às grandes “zebras” registradas nos anais do evento, notadamente a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra, em 1950, da Coreia do Norte sobre a Itália, em 1966, e da Argélia sobre a Alemanha Ocidental, em 1982, todas através do lacônico placar de 1 a 0. Os comentaristas, porém, notavam uma diferença em relação aos resultados precedentes. Dessa feita, a vitória de uma força periférica parecia exprimir uma nova correlação de forças no universo do jogo, simbolizando, ademais, as mudanças globais de um mundo que caminhava para a abolição das fronteiras nacionais.
A derrota argentina, segundo a expressão cunhada por Matinas Suzuki Jr., prenunciava o último tango em Milão, despedida melancólica da hegemonia do futebol sul-americano, surpreendido pelo “primitivismo dos bons selvagens” que haviam exibido em campo o que não se esperava deles, isto é, esquema tático. Na “moderna tecnologia” do jogo, salientava o referido jornalista, “anular um adversário como Maradona”, imobilizado por uma marcação implacável, também se constituía em uma “jogada tão bonita” que merecia ser coroada com o gol da vitória. (12) A análise pós-moderna, contudo, embutia juízos conflitantes e abrigava de modo inadvertido comentários neocoloniais. Antigas metáforas eram acionadas para domesticar o acontecimento protagonizado pelos “Leões Indomáveis”, o epíteto pelo qual a seleção de Camarões era reconhecida no continente africano.
Ainda na Folha de S. Paulo, o enviado especial, Marcos Augusto Gonçalves, realçava a “velocidade tribal” demonstrada em campo por um conjunto de atletas capaz de se “infiltrar como lança e flecha” na defesa adversária. (13) Já a cobertura de O Globo destacava o modo pelo qual os “ingênuos camaroneses” alternavam “jogadas requintadas, bem ao estilo sul-americano, com lances bisonhos, bem de acordo com o estágio de seu futebol”. (14) O esquema explicativo baseava-se no pressuposto evolucionista da prática esportiva, projetando o caminho unilinear que conduzia de forma inexorável ao modelo representado pela Europa, modelo em relação ao qual, no entanto, o Brasil constituíra durante muito tempo uma dissidência perturbadora, um enigma indecifrável.
Vista por esse prisma, a questão se resumia em identificar o estágio no qual se encontrava o futebol de Camarões. De modo contraditório, mas emblemático do atordoamento provocado pelos acontecimentos de Milão, os “Leões Indomáveis” podiam representar tanto uma “nova primavera” no universo do futebol quanto evocar o lugar “onde o futebol ainda engatinha”. Em perfeita consonância com esta concepção evolucionista, os atletas de Camarões viam-se classificados na categoria dos “african kids”, imagem cara ao colonialismo europeu, prática discursiva empregada de modo estratégico para manter na minoridade os povos subjugados em nome da civilização. As representações saturadas de estereótipos e preconceitos, de certa forma, acabavam interiorizadas pelos grupos dominados, mecanismo que nos ajuda a compreender por que tanto o Zaire em 1974 quanto Camarões em 1990 apresentaram-se nos torneios internacionais sob a direção de treinadores europeus. (17)
Aliás, tocamos aqui no cerne da questão, pois, concomitantemente aos esforços hermenêuticos para exorcizar a strega que aterrissara na Copa da Itália, os analistas esportivos davam-se conta, por assim dizer, de que o Outro era o Mesmo. (18) Conforme informava a crônica brasileira, mais da metade do elenco de Camarões atuava nos campeonatos do Velho Mundo. Explicava-se, dessa maneira, a razão pela qual a equipe possuía esquema de jogo e os atletas obedeciam à disciplina tática. Noutras palavras, os camaroneses haviam sido submetidos ao processo de “aculturação”, beneficiando-se da racionalidade considerada intrínseca aos países hegemônicos. Contudo, à medida que galgavam os degraus rumo à civilização do futebol, os “bons selvagens” viam-se despojados dos elementos tidos como originais que os distinguiam enquanto equipes exóticas aos olhos do mundo. A apreciação do processo pela imprensa brasileira, no entanto, comportava um aspecto incômodo. Sem se dar conta, ela reproduzia em relação aos selecionados africanos o mesmo discurso enunciado pelos europeus em relação aos brasileiros. Assim, por exemplo, Armando Nogueira desdenhava da Argentina por se deixar abater por uma “equipe primária” que ainda não havia se livrado do “sotaque circense da jovem escola africana de futebol”. (19)
Os camaroneses eram os novos brasileiros, incumbidos de levar adiante um futebol “alegre”, “ingênuo”, “circense”, atributos outrora imputados pelos europeus aos selecionados canarinhos. A façanha de Milão, com efeito, suscitava nos observadores a leve impressão de que o eixo em torno do qual gravitavam as inovações no futebol estava se deslocando da América para a África. Essa avaliação, por sua vez, tornar-se-ia ainda mais persuasiva, quando, na sequência da competição, a valente equipe do Egito deteve o mecanismo avassalador da “Laranja Mecânica”, arrancando um empate heroico da favorita Holanda. Sem recorrer à violência e exibindo em campo um time “bem estruturado” do ponto de vista tático, os egípcios surpreenderam os campeões europeus de 1988, infligindo-lhes um inesperado revés, consubstanciado no empate de 1 a 1. Sem perda de tempo, o treinador da equipe árabe-muçulmana, Mahmmoud El-Gohari, aproveitava a oportunidade para reivindicar ao continente africano a participação de um “terceiro representante na Copa do Mundo”. (20) Compreenda-se: se, em 1974, o desempenho vexatório do Zaire servira de argumento para os que se posicionavam contra a concessão de novas vagas, o desempenho conjunto de Camarões e do Egito, em 1990, conferia legitimidade ao pleito e peso político aos 35 votos que o continente em questão possuía dentro da Fifa. (21)
A campanha arrebatadora dos “Leões Indomáveis” na Copa da Itália, eliminados somente nas quartas de final em uma partida dramática contra a Inglaterra, situava o futebol africano em um novo patamar. Ao longo da década de 90 as expectativas passaram a se concentrar, sobretudo, nas “Superáguias” da Nigéria. Com efeito, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, elas surpreenderam os analistas, conquistando a medalha de ouro, título futebolístico mais importante obtido pelo continente. Os africanos já não podiam mais ser considerados “zebras”, encarados como “exóticos” ou ridicularizados como “sacos de pancada”. Enfrentá-los, doravante, convertera-se em uma tarefa árdua para qualquer time europeu ou sul-americano. De fato, os franceses provariam do mesmo veneno experimentado pelos argentinos cerca de dez anos antes, caindo em 2002 diante dos “Leões” do Senegal na abertura da Copa do Japão e da Coreia do Sul.
A vitória pelo indefectível placar de 1 a 0 possuía um gosto de revanche simbólica da antiga colônia contra a metrópole imperial. Em profundo contraste com a tristeza das áreas mais centrais de Paris, nos cantos da cidade “desconhecida” pelos turistas estrangeiros, “lá pelos lados de Beleville”, a alegria dos imigrantes africanos se mostrava contagiante. (22) Entretanto, a presença do Senegal na França não se restringia aos imigrantes nos bairros da periferia de Paris. Ela contemplava também a dos próprios atletas vinculados aos clubes franceses, configurando uma reviravolta na trajetória dos selecionados africanos ao longo dos mundiais. Senão, vejamos: em 1974, todo o time dos “Leopardos” atuava no Zaire; em 1990, metade do time de Camarões jogava na Europa; em 2002, todo o time do Senegal militava na França. O confronto da estreia entre estas duas últimas equipes não autorizava uma leitura unívoca, baseada em identidades estáveis e coerentes delimitadas pelas fronteiras nacionais. Pois, enquanto a segunda se beneficiava dos atletas nascidos em diversos países africanos, como, por exemplo, Desailly em Gana, Makelele no Zaire e Patrick Vieira no próprio Senegal (23), a primeira desembarcava na Ásia sob a direção de um treinador francês, Bruno Metsu, e com um elenco composto de 23 jogadores, dos quais somente dois não atuavam na antiga metrópole, onde, aliás, a imensa maioria se constituíra como atleta profissional, inserindo-se desde cedo nos centros de formação espalhados pelo país. (24)
As cartas de identidade afiguravam-se, assim, embaralhadas por um conjunto entrelaçado de processos internos e externos ao futebol, tais como a globalização econômica, o fluxo migratório e a circulação de atletas. Em compensação, a interligação entre os dois polos de um sistema futebolístico assimétrico e neocolonial revelava-se com nitidez cristalina. Enquanto a liga nacional do Senegal abrigava um campeonato amador, com média de público de 800 torcedores e salários mensais na faixa dos 250 dólares, a liga global da França reunia em estádios lotados profissionais bem-remunerados, provenientes de várias partes do globo, sobretudo das antigas colônias, selecionados seja nos campos precários dos campeonatos africanos, seja nos bairros de imigrantes das periferias francesas. (25)
O recrutamento, a rigor, remontava ao período colonial, quando o marroquino Larbi Ben Barek vestira a malha dos Bleus, em 1938, tornando-se a primeira estrela africana, muçulmana e negra em atuação nos campos europeus (Dietschy & Kemo-Keimbou, 2008, p. 721). Por outro lado, em 1998, já no contexto pós-colonial, o também marroquino Mustapha El Hadji, nascido e crescido na França, beneficiado, portanto, com a dupla cidadania, optara por disputar a Copa do Mundo na condição icônica de “Rei dos Leões de Atlas”. (26) Já os “Leões” do Senegal – para retomarmos o fio da meada – estiveram a um passo de cruzar o marco histórico estabelecido por Camarões. Foram, porém, detidos pelo valente futebol da Turquia, a primeira seleção muçulmana a figurar em uma semifinal de Copa do Mundo. Após a eliminação, no entanto, o jovem atacante do Senegal, El Hadji Diouf, principal revelação do torneio, evocava um velho elo de identificação a título de consolo: “Sou fã do futebol brasileiro e é para eles que vou torcer agora. Eles também representam um pouco o futebol africano”. (27)
A identificação, contudo, embutia um sentimento de ambiguidade, pois, se de um lado ela situava o Brasil na condição de principal referência para o futebol local, de outro lado ela expressava o desejo nada recôndito de tomar, na estrutura global do jogo, o lugar que já pertencera à “terra de Pelé”. (28) Nesse sentido, conforme declarava Stephen Appiah, camisa 10 da seleção de Gana, às vésperas do confronto entre os dois selecionados na Copa da Alemanha de 2006: “Somos o Brasil da África”. (29) O enunciado era formulado por um jogador do Senegal que atuava na França, mas se identificava com o Brasil e evocava esta associação para redefinir o significado do futebol no país da África onde ele tinha nascido.
O “Brasil” da América, por sua vez, afigurava-se como o amálgama de duas noções genéricas e antitéticas, a saber: a da Europa, definida enquanto território imaginário da racionalidade do jogo, da ciência médica e da razão tática; e a da África, concebida como a paisagem onírica da infância do jogo, do pensamento mágico e da indisciplina moral. O espaço híbrido do “Brasil”, nem propriamente a Europa transplantada na América, nem exatamente a África recriada na diáspora, conferia-lhe o valor diferencial de um signo aberto que se deslocava ao longo da cadeia de significações montada para fixá-lo na categoria do exotismo. A mobilidade crítica do signo em questão, no entanto, parecia ter esgotado a sua capacidade de desvelar novos sentidos para o jogo, deixando-se, afinal, decifrar nos termos de uma inteligibilidade imposta pela ordem do discurso no futebol (cf. Foucault, 1996). (30)
Por outro lado, as expectativas de que os selecionados africanos viessem a ocupar no campo das representações o lugar que o Brasil ocupara no passado, infelizmente, não se confirmaram. De fato, no cômputo geral da Copa de 2006, os cinco times do continente tinham colhido três vitórias, três empates e dez derrotas, os piores resultados desde a Copa de 1994. O Datafolha acionava a estatística para determinar o quadro da “estagnação africana”. (31) A Copa da África do Sul, em 2010, a primeira organizada no continente, traria ainda mais desilusões, corroborando uma percepção que se generalizava entre os formadores de opinião. Com efeito, após o confronto ocorrido no Soccer City, estádio localizado no Soweto, entre os selecionados do Brasil e da Costa do Marfim, Tostão não conseguia esconder a decepção com as formações africanas. Elas agora dominavam a arte de se “posicionar defensivamente”, mas, em compensação, mostravam-se “burocráticas”, “frias”, sem inventividade. (32) O desencanto, contudo, atingia também o assim chamado País do Futebol. Indagado pela reportagem da Folha de S. Paulo a respeito da eliminação da equipe dirigida por Dunga, nas quartas de final, Franz Beckenbauer salientava o fato de que os brasileiros há muito haviam deixado de jogar de “uma maneira que encantava”. (33)
Portador, outrora, das promessas do futebol-arte, o Brasil se afigurava o signo esvaziado de toda e qualquer simbologia revolucionária. Mas enquanto a Europa se habituara a enxergá-lo mediante a categoria da “equipe exótica”, a África, tanto a subsaariana quanto a árabe-muçulmana, encontrara no “Brasil” a fonte de inspiração para uma luta mais ampla que cruzava e mobilizava o campo esportivo. Para mostrá-lo, basta-nos evocar aqui o selecionado da Frente de Libertação Nacional, formado em 1958 com o objetivo deliberado de difundir através do futebol a narrativa de emancipação do povo argelino (Alegi, 2010, p. 45). (34) Concebida na clandestinidade por atletas do país africano radicados na França, atuando em diversos gramados do mundo à revelia das sanções impostas pela Fifa, os integrantes da equipe proscrita da FLN entrelaçavam de forma indissociável o ser atleta e o ser revolucionário. Aos 74 anos, Muhammad Maouche, integrante do time-mito, relembrava ao enviado especial de O Globo o elo indissociável estabelecido no contexto da luta anticolonial, mediante uma referência-chave para os componentes do grupo: “Tínhamos a filosofia dos brasileiros, um futebol de toques cadenciados. Aprendemos nas ruas, como vocês”. (35)
As narrativas de emancipação, contudo, encontram-se momentaneamente banidas dos assim denominados megaeventos. Já a “morte do exotismo”, segundo Marc Augé (1999, p. 10), representa a “característica essencial da nossa atualidade”. Os veredictos peremptórios, no entanto, costumam ser desmentidos no transcorrer da história. Nada nos assegura que o sujeito coletivo da diferença cultural tenha sido eliminado do campo de jogo, tampouco que os significados que a competição encerra foram afinal controlados. Ao contrário. A Copa do Mundo se constitui em um evento histórico que não se deixa domesticar facilmente, comportando invariavelmente um “risco simbólico” para as estruturas de poder (Sahilins, 1999).
A classificação do Irã para a Copa da França, em 1998, emerge, nesse sentido, como um caso emblemático. Conquistada na repescagem contra a Austrália de forma dramática no jogo realizado em Melbourne, ela desencadeava reações que escapavam ao controle. (36) Como se recorda, valendo-se da brecha política aberta pelos festejos esportivos, determinados setores da juventude iraniana ocuparam as ruas de Teerã, celebrando a conquista histórica da última vaga através de um comportamento julgado dissidente, transgressor, inaceitável pelas autoridades religiosas do país, à medida que envolvia, de um lado, o consumo proibido de bebidas alcoólicas e, de outro, a inobservância do uso obrigatório do véu islâmico. (37)
As circunstâncias contingentes de uma partida de futebol podem precipitar tanto o advento do jogo catástrofe, materializado na Copa de 2014 no placar de Alemanha 7 x 1 Brasil, quanto ensejar o ressurgimento da equipe exótica, conjunto “estrangeiro” capaz de assombrar a ordem simbólica do jogo, como ocorrera, na Copa de 1958, com o Brasil de Didi, Pelé e Garrincha. Elas podem, ainda, para além das quatro linhas, proporcionar a reavaliação das categorias culturais por meio das quais os grupos subalternos são mantidos à margem das comunidades imaginadas, processo intensificado por uma modernidade que, como assinala Georges Balandier, contempla a figura do “estranho” – exôticos –, “não mais recebido do exterior, de espaços culturais diferentes, mas composto de elementos já existentes”, vindos de um “futuro próximo e gerador do novo” (Balandier, 1997, p. 18). Sendo assim, que a alteridade entre em campo e faça a diferença na Copa de 2018.
.
JOSÉ PAULO FLORENZANO é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
.
(1) Cf. “Diário de Sócrates”, revista Placar, nº 631, 25 de junho de 1982.
(2) Em especial, ver o capítulo “A Outra Questão: o Estereótipo, a Discriminação e o Discurso do Colonialismo”.
(3) Sobre o conceito de capital futebolístico, ver Damo (2007).
(4) Cf. “Escócia Lidera Grupo II ao Vencer o Zaire”, in Jornal do Brasil, 15 de junho de 1974.
(5) Cf. “Uma Goleada Histórica”, in O Globo, 19 de junho de 1974.
(6) Cf. “Resultado Deixa Vidinic Satisfeito”, in Jornal do Brasil, 23 de junho de 1974.
(7) Cf. “Uma Nova Goleada Seria o Caos”, in Folha de S. Paulo, 22 de junho de 1974.
(8) Cf. “Uma Nova Goleada Seria o Caos”, in Folha de S. Paulo, 22 de junho de 1974.
(9) Cf. “Alunos de Primário em Concurso de Doutores”, in Placar, n. 223, 28 de junho de 1974.
(10) Como se sabe, na Copa de 1982 Camarões foi eliminado na primeira fase com três empates: 0 a 0 com Peru e Polônia e 1 a 1 com a Itália. O técnico da equipe africana foi Jean-Vincent, ponta-esquerda da seleção da França na Copa de 1958 (cf. “Festa para Reis Negros”, in Placar, n. 625, 14 de maio de 1982). Convém frisar que a África árabe-muçulmana obteve a primeira vitória na Copa da Argentina, em 1978, no jogo Tunísia 3 x 1 México.
(11) Cf. “Sumi Depois do Gol, Diz Maradona”, in Folha de S. Paulo, 9 de junho de 1990.
(12) Cf. “Diego Dança o Último Tango da Latinidade”, in Folha de S. Paulo, 9 de junho de 1990.
(13) Cf. “Camarões Destronam o Rei Maradona e sua Argentina”, in Folha de S. Paulo, 9 de junho de 1990.
(14) Cf. “Maradona É Atropelado pelos Leões Africanos”, in O Globo, 9 de junho de 1990.
(15) Sobre as expressões citadas, ver, respectivamente, “Diego Dança o Último Tango da Latinidade” (Folha de S. Paulo) e “Maradona É Atropelado pelos Leões Africanos” (O Globo), ambas as matérias publicadas em 9 de junho de 1990.
(16) Cf. “Treinador Evita Clima de Euforia”, in Folha de S. Paulo, 9 de junho de 1990.
(17) O técnico da equipe africana foi Jean-Vincent, ponta-esquerda da seleção da França na Copa de 1958. Antes, nas eliminatórias africanas, Camarões fora dirigida pelo iugoslavo Branco Zutic (cf. “Festa para Reis Negros”, in Placar, n. 625, 14 de maio de 1982).
(18) Cf. “A Bruxa Africana”, in Jornal do Brasil, 9 de junho de 1990. Bruxa em italiano se diz strega.
(19) Cf. “Na Grande Área”, in Jornal do Brasil, 9 de junho de 1990.
(20) Cf. “Técnico Quer Três Times Africanos no Mundial”, in Folha de S. Paulo, 15 de junho de 1990.
(21) Cf. “Na Grande Área”, in Jornal do Brasil, 15 de junho de 1990.
(22) Cf. Reali Junior, “Festa em Paris. Nos Bairros dos Imigrantes”, in O Estado de S. Paulo, 1º de junho de 2002.
(23) Cf. “Colonizadores Versus Colonizados”, in Folha de S. Paulo, 31 de maio de 2002. O atleta nascera em Dacar, na capital do país.
(24) Cf. “Paris-Dacar”, in Folha de S. Paulo, 12 de junho de 2002.
(26) Cf. “Jogador de Duas Pátrias”, in Jornal do Brasil, 12 de junho de 1998.
(27) Cf. “Turquia Elimina Senegal e se Prepara para a Desforra”, in Folha de S. Paulo, 23 de junho de 2002.
(28) Cf. “Pelé: Um Senhor Embaixador para a África”, in Jornal do Brasil, 21 de novembro de 1972. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mário Gibson Barbosa, em visita a Camarões, foi recebido pelo público local como uma autoridade diplomática proveniente da “terra de Pelé”.
(29) Cf. “Sem Medo, Gana Foge do Trivial e Prevê que Pode Fazer Brasil Sofrer nas Oitavas”, in Folha de S. Paulo, 23 de junho de 2006.
(30) Além da obra já citada de Homi Bhabha, ver também Costa (2006).
(31) Cf. “Agora, Só na Próxima”, in Folha de S. Paulo, 28 de junho de 2006.
(32) Cf. Tostão, “Belíssima Vitória”, in Folha de S. Paulo, 21 de junho de 2010. A presença da seleção de Gana nas quartas de final, contra a seleção do Uruguai, não alterava a avaliação a respeito do desempenho dos times africanos, embora por muito pouco ela não tivesse superado Camarões e Senegal, chegando à etapa seguinte, a semifinal da Copa do Mundo.
(33) Cf. “Brasil É Outro, Diz Beckenbauer”, in Folha de S. Paulo, 5 de julho de 2010.
(34) A emancipação política, vale salientar, foi conquistada em 1962.
(35) Cf. Fábio Juppa, “Futebol pela Liberdade Nacional”, in O Globo, 16 de maio de 2010.
(36) Conforme assinalava Valdeir Vieira, o técnico brasileiro que dirigira o Irã no jogo decisivo na Austrália: “A maior dificuldade é que aqui minha mulher [nutricionista e psicóloga] não pode trabalhar comigo, porque, no Irã, mulher não pode entrar no estádio de futebol” (cf. “Brasileiro Errante Quer Milagre pelo Irã”, in Folha de S. Paulo, 21 de novembro de 1997).
(37) Cf. Matthew Shirts, “Dois Times Fundamentalistas”, in O Estado de S. Paulo, 21 de junho de 1998.
Bibliografia
ALEGI, Peter. African Soccerscapes: How a Continente Changed the World`s Game. Ohio, Ohio University Press, 2010.
AUGÉ, Marc. O Sentido dos Outros. Petrópolis, Vozes, 1999.
BALANDIER, Georges. O Contorno: Poder e Modernidade. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.
BHABHA, Homi. O Local da Cultura. Belo Horizonte, UFMG, 2007.
COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos: Teoria Social, Anti-Racismo, Cosmopolitismo. Belo Horizonte, UFMG, 2006.
DAMO, Arlei. Do Dom à Profissão: A Formação de Futebolistas no Brasil e na França. São Paulo, Hucitec/Anpocs, 2007.
DIETSCHY, Paul; KEMO-KEIMBOU, David-Claude. Le Football et L`Afrique. Paris, EPA/Hachette Livre, 2008.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo, Edições Loyola, 1996.
SAHILINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 1999.
.
.