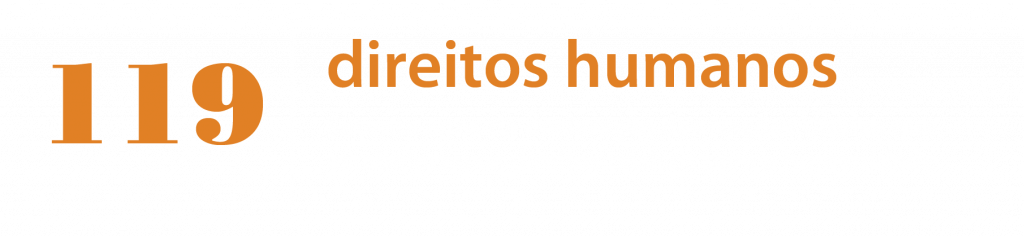Gráficos de pngtree.com
Em busca dos direitos humanos: quem são os sujeitos?
Flávia Schilling
Carlota Boto
resumo
Este artigo tem por objetivo debater a história e a atualidade das acepções de direito e de justiça nas lutas sociais que abarcaram as ideias de igualdade e de diversidade. Trabalharemos, como ponto de partida, com um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que orientará nossa reflexão, por revelar, de forma radical, os dilemas da igualdade e da diferença que permeiam os embates e as lutas sobre “quem” é o sujeito de direitos. Refletiremos, do ponto de vista histórico, sobre as conquistas relacionadas ao campo dos direitos humanos. Em seguida, levantaremos questões contemporâneas que abarcam o tema da democracia e dos procedimentos para obtenção da justiça, os quais ancoram uma sociedade pautada pela dimensão dos direitos humanos.
Palavras-chave: direitos humanos; democracia; sujeito de direitos; igualdade; diversidade.
abstract
The article aims to discuss historical and current meanings of law and justice in social struggles that embraced ideas of equality and diversity. Our starting point is an article from the Universal Declaration of Human Rights which will guide our reflection as it radically reveals the dilemmas concerning equality and difference which permeate the fights and clashes over “who” the right holder is. From a historical point of view, we will reflect on the accomplishments regarding human rights. Then, we will raise contemporary issues addressing democracy and mechanisms for obtaining justice, which anchor a society based on human rights standards.
Keywords: human rights; democracy; right-holder; equality; diversity.
Artigo 2o da Declaração Universal dos Direitos Humanos
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
O objetivo do presente artigo é o de refletir sobre a história e a atualidade do direito e da justiça nas lutas em torno da ideia de igualdade e diferença. Trabalharemos, como ponto de partida, com um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por revelar, de forma radical, os dilemas da igualdade e da diferença que permeiam os embates e as lutas sobre “quem” é sujeito de direitos. Trata-se do Artigo 2o que diz:
“Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.
Em trabalhos continuados sobre a Declaração, em sala de aula ou em diversas formações, deve-se insistir muito sobre a radicalidade da formulação sobre quem é o sujeito dos direitos humanos. As várias traduções existentes trazem os seguintes termos para determinar quem é este sujeito: “todo ser humano”, “toda pessoa”… Ou, então, o termo “ninguém”: ninguém será torturado, ninguém será escravizado, ninguém será preso ou eliminado por sua opinião política, religião, sexualidade. São termos que não admitem exceções. A ênfase sobre quem é o sujeito de direitos aparece em todos os artigos, de forma terminante. Não há “fora”, não há a possibilidade de se pensar em alguns, alguns com mais ou menos direitos dependendo de sua posição social, sexo, sexualidade, raça, religião, etc. Não há restrições. Assim como não há restrições, há a abertura, no artigo citado, para que novas formas de discriminação sejam eliminadas. Há o cuidado, por parte dos legisladores, em manter abertas as possibilidades de existência de formas de discriminação que não haviam ainda sido percebidas no momento em que a Declaração foi escrita, há 70 anos. Isso aparece no final do artigo, quando se diz “ou qualquer outra condição”.
Essa precaução é fundamental, pois no Brasil, assim como em outros muitos países, há uma luta constante em torno de quem é esse sujeito que será protegido por direitos e se a ideia de igualdade se sustentará. Quais serão as vidas que serão consideradas passíveis de luto, vidas reconhecidas e reconhecíveis em sua diferença? (Butler, 2016). Pois essa é uma ideia forte nesse artigo: há uma igualdade de condição básica a partir do reconhecimento das diferenças. Pois, (in)dependente das diferenças existentes – “seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” –, todos participam dos direitos aqui declarados.
Essa é uma posição eivada de radicalidade que precisa ser discutida, pois permanece muito viva a ideia de que os direitos humanos seriam “para alguns”, talvez para “humanos direitos”; e que deles estariam excluídas populações que se afastam de uma norma dominante ou que não falam a nossa língua, não rezam aos mesmos deuses, não se comportam como determinado no marco de uma dada sociedade.
Há, no Brasil, dificuldades para entender o que são direitos e quem deles pode participar. É difícil imaginar que, pelo fato de existirem, alguém conte com a proteção dos direitos, sendo protegido, assim, da violência e da precariedade da vida:
“Agora ter nascido se apresenta como motivo suficiente do direito universal do nascimento, que em todo caso só se deixa expressis verbi na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 como uma ‘dignidade’ que a todos cabe, sem exceção. Nessa expressão condensa-se o paradoxo, que fundamenta os tempos modernos, de um privilégio para todos. Realiza-se a democratização da distinção. Porque a todos cabe dignidade humana, todos podem levantar os olhos para todos. O homem tem em si mesmo a diferença vertical” (Sloterdijk, 2002, p. 90).
Está sinalizado, assim, um dos grandes campos das lutas contemporâneas, da tensão permanente entre igualdade e diferença, que determina quem está protegido da violência, quais são as vidas que importam, quem são, em suma, os sujeitos de direitos.
Outro campo de luta que aqui emerge é entre universalismo e particularismos, entre eurocentrismo (transformado em universal) e outras culturas que não seriam consideradas nos embates, permanecendo em um patamar de ininteligibilidade e invisibilidade. É, também, um campo de luta com uma longa história o que diz respeito à igualdade e à diferença pensando-se nos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, do desenvolvimento e da paz. É uma luta entre os direitos da liberdade e os da igualdade. Como pensar uns sem os outros? Outra luta se dá em torno da própria linguagem da Declaração, que dirá no masculino as questões, como se este masculino fosse neutro. Todos podem levantar os olhos para todos? Todas podem levantar os olhos para todas e todos? Quem pode?
Judith Butler (2016, p. 14) nos alerta exatamente sobre os enquadramentos ou molduras a partir dos quais fazemos nossas análises, em si mesmas operações de poder. Quais são as vidas que conseguimos reconhecer? Quem pode ser protegido da violência e da produção da precariedade da vida? Quais são as condições existentes, as normas que operam para que certos sujeitos possam ser reconhecidos e reconhecíveis? Butler (2016, p. 21) dirá que há dois termos importantes, a apreensão (um modo de conhecer) e a inteligibilidade (esquema que estabelece os domínios do cognoscível), para conseguir reconhecer e questionar os enquadramentos. Pois os
“Esquemas normativos são interrompidos um pelo outro, emergem e desaparecem dependendo de operações mais amplas de poder, e com muita frequência se deparam com versões espectrais daquilo que alegam conhecer. Assim, há ‘sujeitos’ que não são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que dificilmente – ou melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas” (Butler, 2016, p. 17).
Para situar este debate na atualidade, passamos a uma história da construção dos direitos humanos.
UMA BREVE HISTÓRIA
Norberto Bobbio já dizia que a Revolução Francesa é um momento crucial para se pensar sobre o tema dos direitos adentrando as representações políticas. Não apenas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aprovada em 26 de agosto de 1789, como também o próprio dia 4 de agosto do mesmo ano, quando foram retirados os privilégios da nobreza, e a própria Tomada da Bastilha – tudo isso deu lugar a uma nova era que seria pautada por duas ideias fundantes: a democracia e os direitos humanos. Por ser assim, refletir sobre o tema dos direitos humanos requer que se trace, em certa medida, a reconstituição histórica de sua proclamação. E isso passa pela maneira como a Revolução Francesa desenhou o tema dos direitos e a quem seriam destinados, assim como o modo pelo qual a mesma revolução se apropriou das declarações de direitos já ensaiadas por algumas colônias norte-americanas e pela própria independência dos Estados Unidos.
Bobbio pontua, nessa direção, a referência ao fato de a Declaração de Direitos francesa ter sido precedida pelo processo de luta de colônias dos Estados Unidos da América contra a metrópole inglesa. Fábio Konder Comparato (1999, p. 38) situa na Declaração da Virgínia, datada de 12 de junho de 1776, o “registro do nascimento dos direitos humanos na história. É o reconhecimento solene de que todos os homens são igualmente vocacionados, pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento constante de si mesmos”. A ideia expressa nessa declaração era a de que os direitos são de natureza e inatos. Os homens, quando entram no estado civil, não podem, por nenhum tipo de pacto, se privarem deles: a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança e a busca da felicidade. Essa ideia de felicidade, bem como as demais, duas semanas depois da Declaração da Virgínia, constaria da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esses direitos eram tidos por inerentes à condição humana, implicando, portanto, todos os povos e civilizações. A democracia moderna surge, então, como um movimento que limita os poderes governamentais – sem que houvesse, entretanto, uma preocupação em defender a maioria pobre contra a maioria rica (Comparato, 1999, p. 39). Analisando, como Bobbio, as revoluções Americana e Francesa, Comparato (1999, p. 40) dirá o seguinte:
“A chamada Revolução Americana foi essencialmente, no mesmo espírito da Glorious Revolution inglesa, uma restauração das antigas franquias e dos tradicionais direitos de cidadania, diante dos abusos e usurpações do poder monárquico. Na Revolução Francesa, bem ao contrário, todo o ímpeto do movimento político tendeu ao futuro e representou uma tentativa de mudança radical das condições de vida em sociedade. O que se quis foi apagar completamente o passado e recomeçar a História do marco zero – reinício muito bem simbolizado pela mudança do calendário. Ademais, enquanto os norte-americanos mostraram-se mais interessados em firmar sua independência em relação à coroa britânica do que em estimular igual movimento em outras colônias europeias, os franceses consideraram-se investidos de uma missão universal de libertação dos povos”.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França de 1789, teria uma especificidade, dado que se propunha a firmar o que Rousseau compreenderia como um novo “contrato social”, estruturado a partir das imagens da soberania e da vontade geral. Entretanto, é muito particular o modo como a Declaração de Direitos francesa se apropria do Contrato social de Rousseau. No pensamento rousseauniano, haveria a alienação completa de todos os direitos à comunidade. Os princípios do Contrato subordinavam à vontade geral as dimensões individuais das pessoas. Ora, no caso da Declaração de Direitos, a individualidade e os supostos direitos de natureza são privilegiados – o que nos leva a acreditar que, além da remissão explícita à referência rousseauniana, a Declaração seja muito tributária do pensamento de John Locke; até pelo enunciado de quais seriam os direitos de natureza e imprescritíveis do homem: direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão – tal como consta do Segundo tratado sobre o governo civil. Já a marca de Rousseau estaria dada no artigo terceiro, que diz que o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, e no artigo sexto, que declara que a lei é a expressão da vontade geral. Tanto a ideia de soberania quanto a de vontade geral são muito tributárias do pensamento político de Rousseau.
A singularidade da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reside basicamente em sua pretensão fundadora. Ao enunciar os direitos que estavam sendo, em tese, ali inventados, a Declaração pretende ser o marco zero da história. Diferente do que se passou nos Estados Unidos, onde as declarações expressaram a consolidação de uma ordem, na França o que ocorreu foi o contrário: pretendia-se, com a Declaração, instaurar uma nova ordem, um estado de coisas inteiramente novo. Nesse sentido, o caráter inaugural que estava posto na construção de uma nova ordem pública conferia inventividade e ousadia à organização social que se pretendia erigir.
A acepção de igualdade remeterá no século XIX para a construção de um novo patamar do direito – segundo Bobbio, uma segunda geração. Surgem os direitos sociais, “que se realizam pela execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos próprios para viver dignamente” (Comparato, 1999, p. 52). Essa segunda geração de direitos foi uma conquista das lutas de 1848 e depois da Comuna de Paris. Expressou-se em cartas constitucionais como a de Weimar de 1919 e até na Constituição de 1934 no Brasil. Esses direitos sociais, que se confundem com a ideia de direitos do trabalhador, estão hoje sob ataque com a crise dos Estados de bem-estar social e o surgimento da doutrina dita neoliberal. De todo modo, aqueles direitos foram efetivamente consagrados quando da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU, em 1948.
Nessa Declaração, além dos direitos civis e políticos, são assegurados também direitos econômicos, o direito ao livre trabalho, à livre escolha do emprego, à igualdade de remuneração pelo mesmo trabalho independentemente de quem o execute, e um salário satisfatório, condizente com a dignidade humana. Além disso, registra-se o direito à sindicalização, ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Finalmente, consta do Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos a necessidade de haver proteção social para as pessoas:
“Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade” (Declaração, 2005, p. 37).
Embora o lema da liberdade, igualdade e fraternidade demonstre que houve sincronia no estabelecimento de todos os direitos, é possível apreendê-lo por uma ênfase historicamente pautada por gerações de reconhecimento dos direitos. Se a ideia de liberdade constrói, em alguma medida, a primeira geração dos direitos humanos, e se a ideia de igualdade baliza a segunda geração de direitos, é possível dizer que a terceira geração de direitos é marcada sob o signo da fraternidade (Bielefeldt, 2000). Trata-se do reconhecimento de todos os outros, de todas as minorias e dos desprivilegiados do mundo. Surgem, nessa lógica, os direitos da infância, do idoso, dos portadores de necessidades especiais, dos negros, dos homossexuais, etc. Victoria Camps – que recorda que os cidadãos são sujeitos de deveres e não apenas de direitos – destaca o valor da fraternidade como uma estratégia de compartilhar benefícios e vantagens da humanidade com todos os seres humanos que carecem desses benefícios. Diz a autora que a fraternidade tem um valor moral e político para qualificar o que seriam as obrigações da cidadania (Camps, 2010, p. 12).
Quando pensamos no tema da educação em direitos humanos, é possível estabelecer uma correlação entre as gerações de direitos para elencar o direito à educação também por gerações. Em um primeiro momento, tratar-se-ia de expandir a escola: a acepção de escola como um direito de todas as crianças, que precisa, então, ser espraiado para a totalidade da população em idade escolar. É o que aparece, por exemplo, na Constituição de 1791 e em 1793. A Declaração de Direitos da Constituição de 1791 diz que “será criada e organizada uma instrução comum a todos os cidadãos, gratuita no que concerne às partes do ensino indispensáveis a todos os homens” (apud Comparato, 1999, pp. 141-2). A Declaração de Direitos da Constituição de 1793 considerará também que “a instrução é uma necessidade de todos. A sociedade deve favorecer, com todos os seus poderes, os progressos da instrução pública, bem como pôr a instrução ao alcance de todos os cidadãos” (apud Comparato, 1999, p. 144). Como se vê, em ambos os casos, trata-se de difundir a instrução – qualquer instrução. Já em meados do século XX a história era outra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, marca a ideia de uma educação de qualidade, que é enunciada da seguinte forma no Artigo 26:
“1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz” (Declaração, 2005, p. 37).
Seja como for, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, além dos aspectos já enunciados acima, oscila entre uma dimensão universalista e igualitarista e a marca do reconhecimento da pluralidade cultural. É possível dizer que nem a igualdade e nem a diferença são direitos suficientes. É preciso ter o reconhecimento da igualdade, até para demarcar a circunscrição da pluralidade e da diferença. Nos termos de Flávia Piovesan (2008, p. 117), verifica-se o que segue:
“Para os universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana enquanto valor intrínseco da condição humana. Defende-se, nessa perspectiva, o mínimo ético irredutível – ainda que se possa discutir o alcance desse ‘mínimo ético’ e dos direitos nele compreendidos. Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada com o sistema político, econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade”.
Claude Lefort indaga se a acepção de direitos do homem remeteria, em última instância, a uma natureza do homem. Ou seja: haveria uma visão essencialista que balizaria a tônica dos direitos humanos? De qualquer maneira, o gesto de proclamar direitos aponta em direção a algum universal do discurso. Além disso, o mesmo autor questiona se essa proclamação dos direitos do homem teria servido apenas para “mascarar as relações estabelecidas na sociedade burguesa, ou então tornaram possível e até mesmo suscitaram reivindicações e lutas que contribuíram para a emergência da democracia” (Lefort, 1991, p. 38).
Nem todos os povos reconhecem a ideia de direitos universais. Então eles não poderiam ser tomados em sua universalidade? Questionando por diversas vias a existência ou não dessa dimensão universal intrínseca ao ato de declarar direitos humanos, Lefort diz que há algo que não poderia ser negado a partir desse debate: “a universalidade do princípio que traz o direito para a interrogação do direito” (Lefort, 1991, p. 56). A democracia e os direitos do homem teriam, nessa medida, “abolido o lugar do referente” (Lefort, 1991, p. 57). Não há mais, portanto, a referência de qualquer certeza. Apenas os direitos humanos como ideal regulador das possibilidades da justiça. Nos termos de Lefort (1991, p. 57):
“[…] dito de outra maneira, a democracia convida-nos a substituir a noção de um regime regulado por leis, de um poder legítimo, pela noção de um regime fundado na legitimidade de um debate sobre o legítimo e o ilegítimo – debate necessariamente sem fiador e sem termo”.
Nossa época contemporânea, mais do que qualquer outra, colocou o tema dos direitos em sua agenda política. Pela primeira vez, são situadas, em proporção semelhante, as diversas gerações de direitos, em confluência e em confronto. A existência de flagrante desrespeito ao território dos direitos em países de tradição ocidental não aniquila a validade da enunciação dos mesmos direitos. Por ser assim, é possível dizer que serão os próprios direitos humanos que estabelecerão a correção das práticas deletérias de sociedades que prescindem de sua aplicação, constituindo um campo de luta central na atualidade.
DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E RECONHECIMENTO
Se o justo é todos poderem levantar os olhos para todos, isso não se dá sem tensões específicas no contemporâneo. Essas tensões são amplamente trabalhadas por Nancy Fraser em artigo intitulado “Reconhecimento sem ética?”. Fraser propõe superar os modelos dicotômicos usuais e encontrar uma possibilidade de pensar, no marco dos direitos, a justiça como reconhecimento (da diferença), como distribuição/redistribuição (igualdade) e paridade participativa.
Fraser (2007, p. 2) parte, em sua análise, da constatação do divórcio existente no debate teórico entre reconhecimento (da diferença) e redistribuição (a busca pela igualdade):
“Em alguns casos, além disso, a dissociação tornou-se uma polarização. Alguns proponentes da redistribuição entendem as reivindicações de reconhecimento das diferenças como uma ‘falsa consciência’, um obstáculo ao alcance da justiça social. Inversamente, alguns proponentes do reconhecimento rejeitam as políticas redistributivas por fazerem parte de um materialismo fora de moda que não consegue articular nem desafiar as principais experiências de injustiça. Nesses casos, realmente estamos diante de uma escolha: redistribuição ou reconhecimento? Política de classe ou política de identidade? Multiculturalismo ou igualdade social?”
Para dar conta desses dilemas, Fraser propõe uma concepção ampla de justiça que trata a distribuição e o reconhecimento como duas distintas perspectivas/dimensões. Mudando a perspectiva analítica do reconhecimento para a de status social como meio de introduzir o conceito de paridade social – igualdade de participação na vida social – infere a necessidade de políticas – justas – que visem a superar a subordinação de algum grupo social: “[…] as reivindicações por reconhecimento no modelo do status procuram tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, capaz de interagir com os outros como um par” (Fraser, 2007, p. 4).
Fraser (2008) auxilia-nos também quando discute as questões da justiça anormal e da justiça reflexiva, ao pensar em quais são as suas formas possíveis na era da globalização. Haveria possibilidades de se pensar em uma democracia ampliada quando há o rompimento dos antigos marcos, aqueles que emolduram uma justiça “normal” como o Estado, o território e a Nação? Quando novos sujeitos entram em cena? Quais serão os campos que emolduram as lutas por direitos, a busca por justiça?
No marco da justiça normal há um destinatário, o cidadão nacional. Se julgar é colocar um fim à incerteza (Ricoeur, 2008, p. 175), como julgar na sociedade da incerteza? No marco anterior, do Estado-Nação e da figura do cidadão nacional, há aquele que julga, que tem essa legitimidade. Há técnicas, meios que garantiriam o julgamento justo. Ricoeur já descreve, porém, o que chama um intervalo, uma pausa característica da justiça e da busca do justo. Se o justo se situa entre o legal e o bom, produzindo-se de acordo com as leis escritas – com a presença de um âmbito institucional na forma de tribunais e cortes de justiça, na atuação de pessoas qualificadas encarregadas de julgar, com uma ação definida em termos de processo –, seu objetivo é (a)partar, (se)parar. Para conseguir esse feito – diz Ricoeur -, é preciso ir ao âmago do conflito, que existe por trás do processo, do litígio, da pendência. Para ele, como pano de fundo do conflito, está a violência:
“O lugar da justiça encontra-se assim marcado em negativo, como que fazendo parte do conjunto das alternativas que uma sociedade opõe à violência, alternativas que, ao mesmo tempo, definem um Estado de direito” (Ricoeur, 2008, p. 179).
Opor-se à violência é o que mostra o caráter de urgência da justiça. No movimento do julgar, se aparta cada parte, separo minha parte da sua e isso permitiria que cada um pudesse tomar parte na sociedade. Todos/as poderiam levantar os olhos para todos/as.
Fraser (2008) trabalhará com as noções de mapa e balança, para tentar equacionar quais as escalas de justiça que nos garantiriam uma justiça justa, enfrentando os dilemas colocados na sociedade pós-westfaliana. Proporá pensar esses dilemas no marco da justiça anormal, onde não haveria mais concordância entre o que será objeto de disputa, quem (quais os atores) teriam direito nessa disputa, quais as instituições que deveriam garantir a justiça e em como se faria justiça.
É importante assinalar já, na sua análise da justiça anormal, que esta comporta um lado positivo, para não cairmos na tentação conservadora de, frente aos dilemas da sociedade atual, do presente que não cessa de mudar e deslizar, inventar um novo marco fixo, ou retornar a alguma questão anteriormente dada. Pois, nos tempos atuais que incluem a justiça anormal, há uma expansão bem-vinda do campo de impugnação anteriormente dado, há uma oportunidade de se opor às gramáticas (ou enquadramentos) anteriores que limitavam a possibilidade da justiça, que calavam vozes ou as tornavam inaudíveis. Essa expansão da possibilidade de se pensar em outras formas de justiça dá-se tanto no plano do “quê” será objeto de disputas (em termos de redistribuição, de reconhecimento ou de participação) como no plano do “quem” poderá formular novos pleitos e no “como” estas serão resolvidas.
Discute-se, primeiramente, o “quê” da justiça, seu objeto. Este se desdobra em três dimensões, sendo a primeira a dimensão econômica, comportando as lutas por redistribuição. A injustiça dessa dimensão está na desigualdade econômica, na má distribuição da renda. Internamente a essa dimensão econômica há uma luta constante, pois não há consenso sobre o que deverá ser distribuído, como, qual o alcance e quem deverá ser contemplado. Exemplos abundam: políticas focalizadas de redução da pobreza ou políticas universais de distribuição de renda? Quais são os direitos econômicos que compõem a vida digna, lutando contra a precarização da existência?
A segunda dimensão que compõe o objeto da justiça é de ordem “cultural”, ligada ao status de determinado grupo em uma sociedade: são as lutas por reconhecimento ou contra uma determinada hierarquia de status. Essa dimensão, que envolve as lutas por reconhecimento, também é móvel, complexa, apoiando-se em demandas por mais justiça social, por uma nova distribuição de poder.
A terceira dimensão, que transparece nas lutas sobre qual deveria ser o objeto de atenção da justiça, é de ordem política, implicando a luta por superação de déficits de representação, falta de participação política. Novamente, essa dimensão é inseparável das demais, tem uma imbricação com a distribuição de bens, com a distribuição de possibilidades de reconhecimento de igualdade de status. (Fraser, 2008, p. 114).
Quando a justiça é anormal, há disputas em torno de qual dimensão do objeto da justiça deverá prevalecer. Não há concordância sobre se a ênfase estará na redução da injustiça distributiva, na luta por reconhecimento, no déficit de representação. Porém, qual será a medida comum que permitirá que, com a urgência requerida pelas demandas de justiça, encontremos as respostas? Propõe como princípio normativo geral a paridade da participação. A justiça requer que todos participem como pares na vida social. Assim, superar a injustiça significaria eliminar todos os entraves a essa participação, sejam eles econômicos, culturais ou políticos. A ideia central é a da igualdade de todos na possibilidade da determinação dos rumos da sociedade, sem a construção de novas relações de subordinação.
O outro aspecto a considerar no trabalho de Fraser, que nos diz diretamente respeito, trata do “quem” da justiça, quem será seu destinatário principal, estando assim protegido da violência e das violações de direitos. Serão os cidadãos (e cidadãs?) do Estado-Nação? Quem são os afetados por determinada política ou decisão de alguma empresa multinacional, de uma guerra de desestabilização? Quem pertence ao círculo dos que têm direito a igual tratamento? Aqui se encaixam as questões de injustiça da dívida financeira global, do aquecimento global, da pobreza, dos refugiados.
A proposta de Fraser, para dar conta dos impasses de justiça anormal atual, é de uma teoria da justiça que seja ao mesmo tempo reflexiva e determinativa. O problema, neste caso, é o marco ou a moldura (o quadro ou o enquadramento) da justiça.
As molduras ou enquadramentos hoje existentes se dividiriam em três possibilidades: a da condição de membro, no marco de uma nacionalidade ou cidadania compartilhada; a condição comum de todos como membros da humanidade; o princípio da justiça transnacional de todos afetados, marcando que existem relações sociais de interdependência a considerar. Como alternativa a esses enfoques – que ou limitam excessivamente o marco ou o diluem demais –, Fraser propõe um princípio normativo denominado “princípio de todos os sujeitos”:
“De acordo com esse princípio, todos aqueles que estão sujeitos a uma estrutura de governamento determinada estão em posição moral de serem sujeitos de justiça em relação com essa estrutura […] no mundo atual, todos estamos sujeitos a uma pluralidade de estruturas de governamento, locais, nacionais, regionais ou globais. O que é urgente, portanto, é delimitar diferentes marcos de acordo com os diferentes problemas. O princípio de ‘todos os sujeitos’ é capaz de distinguir muitos ‘quem’, segundo finalidades diferentes e nos indica quando aplicar um marco ou então outro e, por isso mesmo, quem tem direito a participar paritariamente com quem em um caso determinado” (Fraser, 2008, pp. 127-8).
Outra questão que cabe mencionar nessa complexa questão do “quem” da justiça é a de quem julgará, quem terá legitimidade de mediar, medir, comparar, falar? Quem decide a norma, a medida, que uma determinada demanda é justa?
Entraremos, agora, na discussão do “como” da justiça: não haveria um acordo sobre como deveriam resolver-se as disputas e demandas sobre a gramática da justiça. Quais seriam as autoridades institucionalizadas, como agiriam? Propõe-se uma teoria que seja ao mesmo tempo dialógica e institucional. Supõe-se a legitimidade das demandas, da existência de muitas vozes (correntemente dissonantes) que possam se fazer presentes e o desafio de imaginar essas vozes aparecendo em novas instituições democráticas globais. Talvez uma precaução a tomar fosse a de que nessa relação dialógica não exista a possibilidade da cristalização de novas subordinações. Nem necessariamente o Estado, nem necessariamente a sociedade civil, nem os partidos, nem as ONGs estariam em condições de decidir o “como” se promove/instaura justiça. Haveria a necessidade, segundo Fraser, de, em cada caso, delimitar quem seriam esses atores institucionais, para dar conta do “como” da justiça.
Uma última precaução seria problematizar a questão da justiça normal e da justiça anormal, tendo como parâmetro a ideia de justiça reflexiva. Esta última seria a forma de contornar o perigo das análises centradas na fluidez, mudança, dilemas da atualidade, invalidando a possibilidade de se perseguir mais justiça. Permitiria manter viva a chama do interesse pela emancipação, acreditando na possibilidade de uma reconstrução da gramática da justiça “de forma que permita ao subalterno falar em termos reconhecidos e reconhecíveis” (Fraser, 2008, p. 144).
Retomando Derrida (2007, p. 33), “a violência de uma injustiça começa quando todos os parceiros não compartilham totalmente o mesmo idioma”. Como construir a possibilidade do falar em termos reconhecidos e reconhecíveis? Quem pode falar? Voltamos, assim à radicalidade primeira que apontamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com sua ênfase no termo “todo”, “toda” pessoa – ser humano. Não haverá essa possibilidade sem a indivisibilidade dos direitos, sem o reconhecimento e a redistribuição, sem a paridade participativa, sem novos enquadramentos para nos orientar nas ações:
“Não há vida sem as condições de vida que sustentam, de modo variável, a vida, e essas condições são predominantemente sociais, estabelecendo não a ontologia distinta da pessoa, mas a interdependência das pessoas, envolvendo relações sociais reproduzíveis e mantenedoras, assim como relações com o meio ambiente e com formas não humanas de vida, consideradas amplamente” (Butler, 2006, p. 38).
Esta é a tarefa política: lutar contra as condições de precariedade e precarização da vida que impedem que sujeitos falem em termos reconhecidos e reconhecíveis, buscando o princípio de “todos os sujeitos”.
FLÁVIA SCHILLING é professora associada de Sociologia da Educação da Faculdade de Educação da USP e coordenadora do Grupo de Pesquisas em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA-USP.
CARLOTA BOTO é professora titular de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da USP e autora de, entre outros, A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa (Unesp).
Bibliografia
AMARAL JÚNIOR, Alberto; PERRONE-MOISÉS, Cláudia. O cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo, Edusp, 1999.
BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos direitos humanos. São Leopoldo, Unisinos, 2000.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992.
BUTLER, Judith. Quadros de guerra. Quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2016.
CAMPS, Victoria. Democracia sin ciudadanos: la construcción de la cidadania en las democracias liberales. Madrid, Editorial Trotta, 2010.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo, Saraiva, 1999.
DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo, Edipro, 2005.
DERRIDA, Jacques. Força de Lei. São Paulo, Martins Fontes, 2007.
“O perdão, a verdade, a reconciliação: qual gênero?”, in E. Nascimento (org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo, Estação Liberdade, 2005, pp. 45-94.
FRASER, Nancy. Escalas de justiça. Barcelona, Herder, 2008.
“Reconhecimento sem ética?”, in Lua Nova: Revista de Cultura e Política do CEDEC, n. 70. São Paulo, 2007, pp. 1-14.
FURET, François; OZOUF, Mona. Le siècle de l’avènement républicain. Paris, Gallimard, 1993.
GAUCHET, Marcel. La Révolution des droits de l’homme. Paris, Gallimard, 1989.
HELLER, Agnes. Além da justiça. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1998.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.
LEFORT, Claude. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991.
MARCÍLIO, Maria Luiza. A Declaração Universal dos Direitos Humanos: sessenta anos – sonhos e realidades. São Paulo, Edusp, 2008.
POSTMAN, Neil. Building a bridge to the eighteenth century. New York, Knopf, 1999.
SCHILLING, Flávia. Direitos humanos e educação: outras palavras, outras práticas. 2ª ed. São Paulo, Cortez, 2011.
SLOTERDIJK, Peter. O desprezo das massas. Ensaio sobre lutas culturais na sociedade moderna. São Paulo, Estação Liberdade, 2002.
RICOEUR, Paul. O justo. São Paulo, Martins Fontes, 2008.
VENTURI, Franco. Utopia and reform in the Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1971.