
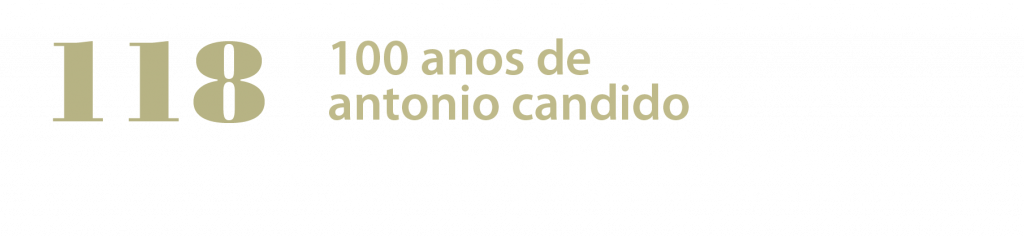

Foto: Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros USP – Fundo Antonio Candido de Mello e Souza
Caipiradas
.
Antonio Candido
Este disco põe o ouvinte no centro de um mundo cultural peculiar, que está se acabando por aí: o mundo caipira.
A gente que vive na cidade procurou sempre adotar modos de ser, pensar e agir que lhe pareciam os mais civilizados, os que permitem ver logo que uma pessoa está acostumada com o que é prescrito de maneira tirânica pelas modas – moda na roupa, na etiqueta, na escolha dos objetos, na comida, na dança, nos espetáculos, na gíria. A moda logo passa; por isso, a gente da cidade deve e pode mudar, trocar de objetos e costumes, estar em dia. Como consequência, se entra em contato com um grupo ou pessoas que não mudaram tanto assim; que usam roupa como a de dez anos atrás e respondem a um cumprimento com certa fórmula desusada; que não sabem qual é o cantor da moda nem o novo jeito de namorar; quando entra em contato com gente assim, o citadino diz que ela é caipira, querendo dizer que é atrasada e portanto meio ridícula. Diz, ou dizia; porque hoje a mudança é tão rápida que o termo está saindo das expressões de todo dia e serve mais para designar certas sobrevivências teimosas ou alteradas do passado: música caipira, festas caipiras, danças caipiras, por exemplo. Que, aliás, na maioria das vezes, as conhecemos não praticadas por caipiras, mas por gente que finge de caipira e usa a realidade do seu mundo como um produto comercial pitoresco.
Nem podia ser de outro modo, porque o mundo em geral está mudando depressa demais neste século, e nada pode ficar parado. Hoje, creio que não se pode falar mais de criatividade cultural no universo do caipira, porque ele quase acabou. O que há é impulso adquirido, resto, repetição ou paródia e imitação deformada, mais ou menos parecida. Este disco é um esforço para fixar o que sobra de autêntico no mundo caipira através da difícil permanência ou da modificação normal, devida à influência inevitável da cultura das cidades.
Aliás, a cultura do caipira não é e nunca foi um reino separado, uma espécie de cultura primitiva independente, como a dos índios. Ela representa a adaptação do colonizador ao Brasil e, portanto, veio na maior parte de fora, sendo sob diversos aspectos sobrevivência do modo de ser, pensar e agir do português antigo. Quando um caipira diz “pregunta”, “a mó que”, “despois”, “vassuncê”, “tchão” (chão), “dgente» (gente), não está estragando por ignorância a língua portuguesa, mas apenas conservando antigos modos de falar que se transformaram na mãe-pátria e aqui. Até o famoso “erre retroflexo” o erre de “Itur” ou de “Tietêr”, que se pensou devido à influência do índio, viu-se depois que pode bem ter vindo de certas regiões de Portugal. Como vieram o desafio, a fogueira de São João, o compadrio, o jogo de cacete, a dança de São Gonçalo, a Festa do Divino, a maioria das crendices, esconjuros, hábitos e concepções. Quantas vezes ouvi caipiras “improvisando” na viola quadras bonitas que anos depois encontrei em coleções de folclore português! Lá por 1946, creio que num sítio perto de Rio das Pedras, me senti transfixado pelos versos admiráveis de um deles sobre a pureza da Virgem Maria, recebendo no seio o Espírito Santo sem a mancha do nosso velho pecado. Mais tarde, numa coletânea de poesia popular portuguesa, li quase a mesma coisa, identificando a fonte que o cantador ignorava tanto quanto eu e com a qual se comunicava por participar na sequência de uma longa tradição.
Portanto, é preciso pensar no caipira como um homem que manteve a herança portuguesa nas suas formas antigas. Mas é preciso também pensar na transformação que ela sofreu aqui, fazendo do velho homem rural brasileiro o que ele é, e não um português na América. “Tabaréu”, “matuto”, “capiau”, “caipira” ou o que mais haja, ele é produto e ao mesmo tempo agente muito ativo de um grande processo de diferenciação cultural própria. No Norte, talvez esteja mais perto do português pela língua e pela tradição, apesar da mistura maior com as raças ditas de cor. No Sul está mais afastado, mais transformado pela contribuição do índio. Na extensa gama dos tipos sertanejos brasileiros, poderia ser considerado “caipira” o homem rural tradicional do Sudoeste e porções do Centro-Oeste, fruto de uma adaptação da herança portuguesa, fortemente misturada com a indígena, às condições físicas e sociais do Novo Mundo.
Na verdade, o caipira é de origem paulista. É produto da transformação do aventureiro seminômade em agricultor precário, na onda dos movimentos de penetração bandeirante que acabaram no século XVIII e definiram uma extensa área: São Paulo, parte de Minas e do Paraná, de Goiás e de Mato Grosso, com a área afim do Rio de Janeiro rural e do Espírito Santo. Foi o que restou de mais típico daquilo que um historiador grandiloquente mas expressivo chamou de Paulistânia.
Nessa linha de formação social e cultural, o caipira se define como um homem rústico de evolução muito lenta, tendo por fórmula de equilíbrio a fusão intensa da cultura portuguesa com a aborígine e conservando a fala, os usos, as técnicas, os cantos, as lendas que a cultura da cidade ia destruindo, alterando essencialmente ou caricaturando. Não se trata, portanto, de um ser à parte, mas de um irmão mais lerdo para quem o tempo correu tão devagar que frequentemente não entra como critério de conhecimento, e que em pleno século XX podia viver, em parte, como um homem do século XVIII. Quem esteve em contato com ele sabe, por exemplo, o quanto é impreciso sobre a própria idade e como não consegue pôr datas na lembrança, além de não saber o que se passa na sociedade maior, cujos sinais podem estar ao seu lado sob a forma de jornal que ele não lê, de cinema que não vê, de rádio que não escuta, de trem que não toma. “Como vai o imperador?”, perguntou-me em 1948 o nonagenário Nhô Samuel Antônio de Camargo, nascido no Rio Feio, atual Porangaba. “Vai bem”, respondi. E ele, com uma dúvida: “Mas não é mais aquele veião de barba?”. E eu: “Não, agora é outro, chamado Dutra”.
Em compensação, no quadro da sua cultura o caipira pode ser extraordinário. É capaz, por exemplo, de sentir e conhecer a fundo o mundo natural, usando-o com uma sabedoria e uma eficácia que nenhum de nós possui. No ano de 1954, na zona rural de Bofete, eu me atrasei para um encontro com Nhô Roque Lameu, marcado para as dez horas. O meu relógio indicava dez horas e quinze minutos e eu comentei que estava desacertado. “Está pouca coisa”, disse ele, “porque pelo sol deve ser nove e meia”. Quando dali a pouco acertei o relógio, vi que estava adiantado 45 minutos e que o velho caipira não apenas calculara a hora com absoluta exatidão, mas achava que três quartos de hora não era coisa apreciável, além de não me corrigir, com a constante polidez do caboclo, lembrando que, ao contrário, eu tinha chegado antes da hora marcada.
Com o seu perfil adunco, cor bronzeada e barba rala na face magra, Nhô Roque podia ser um mameluco apurado. Do ancestral português herdara, com a língua e a religião, a maioria dos costumes e das crenças; do ancestral índio herdara a familiaridade com o mato, o faro na caça, a arte das ervas, o ritmo do bate-pé (que noutros lugares se chama cateretê), a caudalosa eloquência no cururu.
O cururu e a dança de Santa Cruz são dois exemplos muito bons do encontro das culturas. Parece terem sido elaborados sob influência dos jesuítas, que aproveitaram as danças indígenas e o gosto do índio pelo discurso e o desafio para enxertar doutrina cristã. Nada mais caipira do que cururu e dança de Santa Cruz, que só existem em áreas de forte impregnação originária dos antigos piratininganos. E nada mais misturado de elementos portugueses e indígenas, como tanta coisa que observamos nas cantigas, nas histórias, nas técnicas do homem rural pobre e isolado de velha origem paulista.
Faz muito tempo que não ando pelos lugares perdidos do interior, e nem sei se eles ainda existem como tais depois da multiplicação das estradas e ônibus. Quando eu andava – entre 1943 e 1955 –, o caipira ainda era uma realidade cultural definida, apesar de ser cada vez maior a sua ligação com a cultura urbana, aceleradamente modernizada. Era espoliado e miserável na absoluta maioria dos casos, porque, com o passar do tempo e do progresso, quem permaneceu caipira foi a parte da velha população rural sujeita às formas mais drásticas de expropriação econômica, confinada e quase compelida a ser o que fora, quando a lei do mundo a levaria a querer uma vida mais aberta e farta, teoricamente possível.
Foi então que o caipira se tornou cada vez mais espetáculo, assunto de curiosidade e divertimento para o homem da cidade, que, instalado na sua civilização e querendo ressaltar este privilégio, usava aquele irmão miserável para provar como ele tinha prosperado, como era triunfalmente diverso. A vida do caipira ficou sendo então, para ele próprio, uma privação terrível, porque podia ser comparada a outras situações; e para o citadino, um divertimento que lhe dava a confortável sensação de haver mudado para algo melhor e mais alto.
A partir daí, o canto e a música caipira sofreram não as influências normais e por assim dizer orgânicas que sempre sofreram dos seus congêneres cultos; mas a deformação caricatural e alienante que os desfigura e que corrompe o gosto médio como vingança involuntária do espoliado contra o seu espoliador.
A tarefa, portanto, é procurar o que há nele de autêntico. Autêntico não tanto no sentido impossível do originariamente puro, porque em arte tudo está mudando sempre; mas no sentido de buscar os produtos que representem o modo de ser e a técnica poético-musical do caipira como ele foi e como ainda é; não como querem que ele seja, mais ou menos caricaturado para espetáculo dos outros.
..
Texto publicado originalmente como introdução ao disco Caipira: raízes e frutos (São Paulo, Selo Eldorado, 1980) e reproduzido com este título de “Caipiradas” em Recortes (São Paulo, Companhia das Letras, 1993, pp. 248-51).