
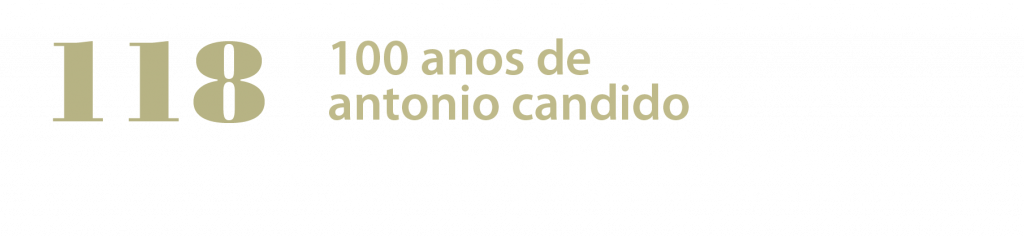

Foto: Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros USP – Fundo Antonio Candido de Mello e Souza
Antonio Candido,
Paulo Betti e o cururu:
um inédito
.
Walnice Nogueira Galvão
O interesse de Antonio Candido pelo cururu vem de longe. Conforme conta, conheceu o cururu por via de seu professor Roger Bastide, um dos mestres franceses fundadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que encarregou um grupo de alunos e assistentes de entrevistar cururueiros em Piracicaba, em 1946(1). O ex-aluno de ciências sociais foi fisgado na hora e nunca mais se desinteressou.
Dez anos depois, publicaria “Possíveis raízes indígenas de uma dança popular”(2). O erudito ensaio, que retoma os primeiros cronistas, mas também discute estética da cultura popular, resultou de seu doutorado em Sociologia II com Os parceiros do Rio Bonito, que teve Fernando de Azevedo por orientador, em 1954(3). Atendendo aos requisitos institucionais, apresentou dois trabalhos subsidiários, um em Sociologia I para Roger Bastide, outro em Antropologia para Emílio Willems. O ensaio destinou-se a este último. Fora sua intenção primeira, como explica na entrevista, fazer doutorado sobre o cururu.
Algo desse interesse ressoaria em “Caipiradas”, texto para o estojo contendo dois discos intitulados Caipira: raízes e frutos(4), realização de Aluizio Falcão, posteriormente recolhido em Recortes(5).
Muitos anos após o doutorado, Antonio Candido foi procurado pelo Pessoal do Victor, grupo de teatro da Unicamp, em 1979, para a criação de um espetáculo haurido em Os parceiros do Rio Bonito, intitulado Na carrera do Divino. Seus membros guardam boa lembrança de uma reunião em casa de Egon Schaden com Florestan Fernandes e Antonio Candido, em que este a certa altura pôs-se a cantar modas caipiras(6). Com texto de Carlos Alberto Soffredini e direção do ator Paulo Betti, o espetáculo faria uma turnê e se apresentaria com grande êxito em São Paulo; a temporada inaugural foi no Teatro de Arena, hoje Eugênio Kusnet. Antonio Candido assistiu, porém incógnito, sem avisar ninguém: esperou as luzes se apagarem, sentou-se bem ao fundo e, quando terminou, saiu de fininho. Mas apreciou muito.
Graças a seus méritos, afora sua originalidade – quase ninguém tratava nem trata de cultura caipira – Na carrera do Divino arrebatou todos os prêmios do ano, com ênfase para o autor do texto, Carlos Alberto Soffredini (APCA, Apetesp, Mambembe), e para a direção de Paulo Betti (Molière, APCA, Mambembe). Soffredini mais adiante seria premiado no Festival de Gramado pelo roteiro do filme de André Klotzel, A marvada carne (1981), que também envereda pelo universo caipira e aproveita vários elementos tanto de Os parceiros quanto de Na carrera do Divino: deste último, por exemplo, o mesmo e excelente protagonista premiado Adilson Barros.
O espetáculo era musical e a trilha sonora de Wanderley Martins, também premiada, resultou num LP de mesmo título, com novas canções e aproveitamento do folclore, tendo como fonte os discos de Marcus Pereira. Este pioneiro realizava então sua gigantesca obra de registro da música popular pelo Brasil todo, com gravação de 144 álbuns, sendo que à música tradicional regional reservou 16 álbuns, ou quatro por região, resgatando preciosidades. Naquele que cobria “Centro-Oeste e Sudeste” havia cururu, catira, cateretê, modas de viola, folias do Divino, folias de Reis, sambas rurais, cirandas, etc.
Quanto ao LP Na carrera do Divino (selo RCA), distribui-se pelas seguintes faixas: Lado 1 – “Na carrera do Divino”/ “João de barro”/ Na carrera do Paiolão”/ “Amanhecer”/ “Sá terra”/ “A origem da roça”/ “O muchirão da colheita”; Lado 2 – “Apuros de um santo casamenteiro”/ “A caçada”/ “Na carrera do Anticristo”/ “Moreninha, se eu te pedisse”/ “Na carrera do Boi Assado”/ “O cuitelinho”.
Até hoje, Na carrera do Divino é reencenado pelo Brasil afora, por diferentes grupos de teatro.
Mais tarde, em 2007, Paulo Betti, que idealizava novo espetáculo mais diretamente baseado no cururu, procurou outra vez Antonio Candido para enfronhar-se no assunto, entrevistando-o em três sessões. Como veremos, o professor tinha aprofundado suas reflexões, ouvido mais cururueiros e se apetrechado com discos, que frequentou e conservou. Vale a pena acompanhá-lo, pois agora estava munido de uma análise concernente à evolução estética e às funções do cururu. Não escreveu, mas falou, e Paulo Betti – a quem agradecemos a doação da entrevista e a permissão para publicá-la – gravou, felizmente para nós.
A entrevista veio à tona quando da cerimônia de batismo do Edifício de Letras, no campus da USP. No dia 1º de setembro de 2017, deu-se o descerramento da placa com o nome de Antonio Candido de Mello e Souza, na presença de suas três filhas e herdeiras. Na ocasião, Paulo Betti, a convite da diretoria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, participou da cerimônia, leu trechos de Os parceiros do Rio Bonito e ofertou um CD contendo a boa surpresa de um vídeo com esta entrevista.
Nem por ser inusitado silencia-se outro lance de Antonio Candido, e este… cantado. Trata-se da “Canção de Siruiz”, do Grande sertão: veredas, que Antonio Candido gravou no CD produzido por Marily Bezerra, Episódios do grande sertão (1997). Ele relata como adaptou a letra criada por Guimarães Rosa a uma antiga melodia de boiadeiros, ouvida na infância em Minas Gerais, nisso utilizando o processo que os cantadores de cururu lhe ensinaram: o de dermanchar. Ou seja, extrair a melodia de uma canção alheia e adequar outra letra a ela. O professor se divertia, dizendo que ainda veríamos sua pseudocanção de Siruiz passar por ser a única original e autêntica. Quando ela foi incluída no CD de Ivan Vilela encartado no “Dossiê Guimarães Rosa” da revista Estudos Avançados(7), escreveria uma nota alertando para tal possibilidade. Dali, a gravação migraria mais uma vez e é ela, anônima mas em sua voz perfeitamente reconhecível, que ouvimos no fecho do belo documentário Outro sertão(8). O filme reconstitui a fase pouco conhecida em que Guimarães Rosa viveu em Hamburgo, primeiro posto que ocupou na carreira diplomática, entre 1938 e 1942. Essa é a mais recente aparição da “Canção de Siruiz” inventada e cantada por Antonio Candido – ao menos por enquanto.
ENTREVISTA
Primeira sessão
[Música]
“É impossive que eu desista
Vou cantar contra Moreira
Quero que o pessoar assista
Vi que o Moreira está bravo
Este é o meu ponto de vista
Eu falei perante o povo
Onde canta um galo novo
Galo véio abaixa a crista.”
Paulo Betti: O que é o caipira para você, nesta dimensão?
Antonio Candido: Quero dizer… o seguinte: para mim, o caipira é o habitante rural da zona que foi ocupada pelos paulistas. Que o meu professor Alfredo Ellis Junior chamava “A Paulistânia”. Qual é esta zona? É o atual estado de São Paulo, é grande parte do estado de Minas, é o sul de Goiás, é parte do Mato Grosso e é parte do Paraná, com afinidades com o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí, você encontra o caipira. O homem rural de outras regiões já é completamente diferente.
PB: É o nativo?
AC: Se você quiser, racialmente, o caipira na verdade seria o descendente de índio e europeu.
PB: Esse é o caboclo?
AC: É o caboclo. Descendente de índio e europeu. Agora, como o que vale é a cultura, você tem caipira italiano, caipira japonês, caipira preto, caipira mulato: é a cultura que pega. Quem aperfeiçoou o cururu foi um italiano que eu não conheci e que já tinha morrido em 1946. Eu fui lá, já tinha morrido há muito tempo e se chamava Tranquilo de Lázaro. Segundo o pessoal de Piracicaba, foi ele quem introduziu a “Bíblia” no cururu. Quer dizer, foi ele quem, provavelmente, chamava de Bíblia o livro de reza, o catecismo. E o Tranquilo de Lázaro parece que era um grande cantador, era um grande mestre do cururu de Bíblia. Era um italiano, um italiano caipira, acaipirado. Por isso eu digo, assim como os antropólogos falam no processo de aculturação, em que o italiano e o brasileiro se aculturaram, você pode falar no processo de acaipiração ou acaipiramento, em que a pessoa adquire valores da cultura caipira independente da origem étnica.
PB: Existem na política brasileira alguns sotaques pronunciadamente caipiras, o Zé Dirceu, o Ulysses…
AC: Ah, tem muitos, porque antigamente, Paulo, todo mundo em São Paulo falava assim. Hoje, é coisa do interior. Todo mundo falava assim. Aqui em São Paulo, na capital, eu me lembro das avós, das tias-avós de minha mulher, todas falavam assim. Nascidas em 1860, 1870, todas falando assim. Quando quiseram fundar a primeira faculdade de direito no Brasil, em 1825-1826, a discussão… foi uma briga danada na Câmara, porque os paulistas queriam que se fundasse em São Paulo. E o pessoal dizia: “Não podemos fundar uma faculdade em São Paulo, porque os rapazes do Brasil – de toda parte do Brasil, para serem a elite brasileira – vão aprender aquela horrível maneira que os paulistas falam”.
PB: Por que ficou considerado horrível o nosso sotaque, quando no Brasil tem o sotaque baiano e não é horrível?
AC: O baiano culto é uma das falas mais bonitas do Brasil. E o paulista culto…, vou só lhe dar um exemplo: minha sogra é de Santos, casou com meu sogro que é de Araraquara. Aí você vai entender tudo. Então, as irmãs do meu sogro falavam de uma pessoa conhecida, e disseram: “Ela é muito curta”. Diz a minha sogra que nunca tinha ouvido isso lá em Santos: “Não, ela é alta”. Aí responderam: “É arta mas é curta”. Elas queriam dizer que ela era culta. E para minha sogra de Santos, “curto” era pequeno e culto era “culto”. O paulista não era capaz… Olha, em Piracicaba tinha o Erotides de Campos, você sabe quem é?
PB: É o autor da Ave-Maria.
AC: [Cantarola] Um grande compositor: ele era mulato e professor de química. Eu conheci alunos dele que contavam da seguinte aula: “Como nós não temos aqui laboratório, eu vou desenhando no quadro a cuba”. E botava o sinal que a cuba estava com líquido. “Eu vou desenhar uma cuba de água, uma cheia de água e outra aqui ao lado cheia de arco. Mas é arco com ‘l’. (Não podia falar álcool, não sabia, era arco com ‘l’.) Aí pego um arco vortaico – mas agora é arco com ‘r’ mesmo. E bota extremidade negativa num e extremidade positiva noutro.” É uma maravilha, o paulista culto que é incapaz de pronunciar o ‘l’ médio.
PB: Tem até um livro lá em Piracicaba… que se chama… o barbeiro pergunta… (que se chama…): “Arco ou tarco?” “Verva!” (Aqua Velva).
AC: De modo que a pronúncia paulista antiga é muito aberrante em relação ao português. E… de modo que o pessoal não queria… E na Bahia, falava-se muito melhor. No Rio, no litoral, em geral é que se falava bem o português – no litoral. No interior, é isso.
Segunda sessão
[Música]
“Vou cantar o cururu
Carrera São João Batista
Meu solista está propondo
Brigação de um repentista
Eu aviso desde já
Eu vim lá do Paraná
Pra enfrentar o campeão paulista
Eu sou Narciso Correia,
Sabedor e motorista
Cantador de cururu
Brasileiro e reservista
Eu gosto de cantoria
Quando eu entro na porfia
É impossive que eu desista
Vou cantar contra o Moreira
Quero que o pessoar assista
Vi que o Moreira está bravo
Este é meu ponto de vista
Eu falei perante o povo
Onde canta um galo novo
Galo véio abaixa a crista
Eu cheguei em Sorocaba
Que é a Mancheste paulista
Encontrei Zico Moreira
Tava olhando uma revista
Mas eu quero esclarecer
Que caboclo não sabe ler
Ele fugiu de escola mista
Outro dia eu vi o Moreira
Que confunde os palmeirista
Ele tava de carção
Feito de um pano de lista
Jogador ele não é
Só de inveja do Pelé
Foi que…”
[A música é interrompida]
AC: Quer que eu ponha a cinco do Parafuso?
PB: Deixa tocar mais um pouquinho… Daqui a pouco a gente volta.
[Continua a música]
“O Zico era feiticeiro
Começou fazer conquista
Mas a polícia deu em cima
Ele vira espiritista
O caboclo não tem firmeza
Pois eu tenho na certeza
Que ele vira evangelista.”
AC: Agora o Zico responde.
“O Seu Narciso Correia
É um cantante inteligente
Ele canta muito bem
Mais agrada muita gente
Sua fama é muito grande
E quem me falou não mente
Mas não sei o que acontece
Que a fama desaparece
Quando está na minha frente
Escutei ele cantando
Compreendi perfeitamente
Diz que o frango quando canta
Deixa o galo descontente
Galo véio abaixa a crista
Como é tudo diferente
Quando é que um franguinho novo
Até nem saiu do ovo
Só querendo ser valente
Eu fugi da escola mista
Essa coisa não aumento
Quatro ano eu tive lá
E já foi o suficiente
Eu guardei o meu diproma
Que eu tirei antigamente
Está lá bem guardadinho
Para esfregar no focinho
Daquele que me desmente
Seu Narciso disse assim
Que eu sou caboclo indecente
Marreteiro e vigarista
Diz que eu logro muita gente
Uma vez eu vi o tar
– É por isso que ele sente –
Por quinhentos mil cruzeiro
Deu um bode e um carneiro
E um burro véio sem dente
Sei dizer que o frango novo
Está com a cabeça quente
Quer brincar com o galo véio
Mas é impossive que aguente
Galo véio tem espora
Deixa frango novo doente
O que vai acontecer
É que o frango vai correr
Com medo que a espora entre
O Narciso é o cantador
Que canta divinamente
É o tar que canta tudo
O que vem na sua mente
Mais é muito linguarudo
Pra falar dos inocente
Além disso é meio louco
E eu cubiço esse caboclo
Pra pelar com água quente
Que agora eu descanso um pouco
Depois vorto novamente.”
PB: Podemos passar outra? Pode ficar tranquilo, que para mim aqui é gravação.
AC: O Parafuso é a cinco, aqui.
PB: Pode aumentar um pouquinho?
[Música]
“Já tá de novo o Parafuso
Senhores peço cuidado
Para combater com Nhô Chico
Um caboclo apreparado
Bem que o Parafusinho
É um causo cumpricado
Sou Parafuso sem porca
Que é pra não fincar errado
Aqui não tem Nhô Chico
Que o futuro é pra seu lado ai
Este Nhô Chico canta bem
Caboclo canta pesado
Ó minha gente boa
Pra cantar ele é preparado
Mas quando nós vai na festa
Me deixa envergonhado
Nós fomos em Laranjar
O dia de ante passado
Quando cheguemo na festa
A mesa tava arrumado ai
Minha gente que aqui estão
Tá lá um bababá danado
Nhô Chico sentou na mesa
Comendo seu frango assado
Entrou na leitoa
Depois ficou apertado
Na hora de cantar
Pegou a virá e pôs tudo lá
Ô minha gente boa
Ele saiu disparado ai
Quando foi no outro dia
O que eu achei mais gozado
Ele entrou numa farmácia
Diz que tava constipado
Senhores que aqui estão
Me deram o remédio errado
Senhores meus companheiro
Nhô Chico ficou apertado
Depois tarracou num poste
Ficou com os óio vidrado ai
E nisso eu ia passando
Prele eu tinha preguntado
Nhô Chico o que que acontece?
Ele disse: Eu tô acarcado
Tô tarracado aqui
Parafuso estimado
Lidando pra não tossir
Que se eu tossir tô bombardeado
Eu carreguei Nhô Chico
Levei ele abraçado ai
Criançada das escola
Ai nisto tinha enxergado
Criançada deu de si
Fui eu que fiquei magoado
Gritavam com Parafuso
Gritavam desassisado
Lá vai Mamãe Dolor
Com Robertinho carregado.
Eu falei pra criançada
Dessa vez sartei de lado ai
Ô minha rapaziada
Agora eu fico parado
Vai lá o amigo Nhô Chico
Eu deixo pra seu cuidado
É mestre que vai cantar
Já tá duro pro meu lado
Eu sou Parafuso sem porca
Que é pra não ficar apertado
E neste ponto adeus, adeus
Atenção muito obrigado ai.”
PB: O senhor conhecia o Parafuso?
AC: Não. O Parafuso eu não ouvi cantar. Eu ouvi cantar, desses aí, só o Zico Moreira. Porque o Parafuso é uma geração depois. Zico Moreira cantou… até quase 90 e tantos anos ele ainda cantava. Eu já lhe disse que ouvi cantar os grandes, o João Davi, que morava em Sorocaba, Zico Moreira, que morava em Conchas, Sebastião Roque, que morava em Pereiras, depois um mais moço que estes, que era Pedro Chiquito.
PB: Pedro Chiquito, acho que não tem aí.
AC: Não. Pedro Chiquito morreu tuberculoso, relativamente moço. Outros que eu ouvi da geração dele não gravavam disco. É o caso do Agostinho Aguiar. Mas o Parafuso vem depois. E eu acho que nunca vi. Eu conheço o Parafuso daqueles tempos. Eu tenho disco deles.
PB: É mesmo?
AC: É. Mas foi um dos mais famosos do tempo dele. Mas, nesse tempo, eu já não via mais o cururu. Esse disco é muito interessante, porque já é um cururu completamente fora do contexto. Porque nós conversamos a respeito disso, já. O cururu era uma dança de fundo religioso que depois foi se secularizando. O que eu queria estudar – que eu nunca estudei, só planejei – foi o processo de individualização, secularização e urbanização do cururu. Quer dizer, à medida que o cururu saía da sua placenta rural, que ele sai da comunidade, do bairro em que ele era solicitado a partir da cidade, ele foi em primeiro lugar se individualizando, quer dizer, ao invés de eu cantar valores religiosos, eu me gabava… e antes era o santo. Em segundo lugar, ele foi se secularizando, foi perdendo os valores religiosos para os cívicos, patrióticos: história do Brasil, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, etc. Em terceiro lugar, ele foi se urbanizando, foi perdendo a sua função na comunidade rural e sendo apenas o espetáculo da cidade. Este disco aqui é extremamente característico, eu nunca tinha visto um disco desse tipo, em que você tem apenas desafio, debate. Um diálogo com o outro. Isso já é uma fase extrema desse processo tríplice de que falei: individualização, secularização e urbanização.
PB: Meu irmão lá em Sorocaba foi quem me deu esse disco, hoje em dia tem cururu em Sorocaba e é um pouco assim.
AC: Pois é, já deve estar nisso, pois o último cururu que eu vi, que eu ouvi, deve ter sido aqui em São Paulo, na Lapa, um grupo que veio, lá por 1950 e poucos. Mas ainda havia resquícios, se montava a coisa, o pedestre lançava… falava qual era a carrera; você vê que aqui eles não estão nem obrigados à carrera. Cada um que vem, pega uma rima nova. Enquanto que antigamente eram quatro e uma carrera era obrigatória para todos. Aqui cada um pega a sua.
PB: Era feito um sorteio?
AC: Não, não, eles combinavam ali na hora. Começava necessariamente pela “Carrera de São João” e acabava necessariamente pela “Carrera do Dia”, quando o dia estava despontando. Aí no meio, tinha as outras carreras: “São João Batista”, “Carrera Papa Capim”, “Ponta d’Agulha”, em várias quantidades. Aqui você não tem mais isso. Aqui já está totalmente individualizado, secularizado e urbanizado. É um desafio individual, sem valor de espécie nenhuma a não ser o debate. O máximo de individualização. Muito interessante… que eu não conheci essa fase. Estava se processando quando eu estudava, mas eu nunca tinha visto um disco com essa pureza, por assim dizer.
PB: Isso aí era gravado na rádio, hoje tem programas de rádio lá, uma programação intensa, todo fim de semana.
AC: Pois é, por aí o processo que eu previ, que eu estudei, já estourou completamente. A minha ideia, no meu tempo, ainda era diferente.
PB: Impressionante, não é, o cururu. Quando eu falei com o meu irmão – porque o Tião Carrero fez uma música em homenagem ao Parafuso –, eu disse: “Puxa, acho que dá para fazer um bom trabalho sobre o Parafuso e sobre o cururu”.
AC: Sei…
PB: Agora, isso aí que você está falando, dessa evolução, desse projeto, é muito mais interessante.
AC: Você vê, quando você esteve aqui da outra vez, nós conversamos sobre o cururu, eu devo ter contado. Eu já esqueci, porque eu esqueço rapidamente hoje. Eu devo ter contado a você como era mais ou menos o cururu, na frase de um velho cururueiro chamado Juvenal Miano em Piracicaba, ali por 1946, 1947, que dizia: “Cururu é abaixo de reza um grau”. É uma maravilha: com todo respeito, tinha que ser cantado sem fumar, sem chapéu, e diante do altar do santo. Portanto, era o cururu coletivo, que era uma dança de roda, em que o desafio ainda era baseado em valores religiosos. Se você perguntar quantos são os botões do casaco de Jesus, se respondia: fé, esperança e caridade. Ou então, você fazia adivinhas: ele era coletivo, ele era religioso, ele era ligado aos valores rurais. Isso era o cururu. E era muito interessante. Há 60 anos eu estava muito interessado, estava chegando, em ver a grande evolução dentro desse sentido que eu te falei.
PB: Aí chegou nisso, né?
AC: Chegou nisso. Muito interessante.
PB: Viu que tem uma hora que o Parafuso faz uma referência a uma novela? Talvez esse seja um pouco mais antigo. Ele está falando do Albertinho Limonta, daquela novela O direito de nascer.
AC: Ah, eu não percebi.
PB: Tem um momento aí, ele se referiu a O direito de nascer. Então, os anos 60, né?
AC: É… Mas enfim…
PB: Muito bom. É que, às vezes, eu também me esqueço de algumas coisas… Só ouvir mais um pouquinho… Eu esqueço de pedir para falar alguma coisa em relação aos instrumentos.
AC: Vamos ver aqui, quem vai cantar agora.
PB: O Parafuso na sete.
[Música]
“Olha aí meu Nhô Chico
É aí que eu já vou andar
Ai dandar, ai dandar
Meu senhor já aqui estamos
Escutando meu cantar
Meu amigo Nhô Chico
Ele é bamba do lugar
Veio de Piracicaba
Nhô Chico veio de lá
Senhores que aqui estão
Ele mora no meu chão
Ele canta pra danar
Aconteceu num dia destes
Ele é o galo do lugar
Ai dandar ai dandar
Esse amigo Nhô Chico
Ele é o galo nacioná
Minha gente que aqui estão
[…]”
PB: É o pandeiro?
AC: É o pandeiro. É uma coisa inteiramente nova, que não havia…
[Música]
“Apanhou de uma galinha
No dia que chegou lá
A galinha era brava
Precisou seu pinicar
Nhô Chico saiu correndo
Mecê pode acreditar
Passou perto de uma casa
Pulou dentro de um jacá
Uma criançada olhando
Foi aquele repuxaquá
O moleque diz pra outro
Não era um tão maroto
Ai o galo branco vai botar
Ai rapaziada
Não sei se tá ou não tá
Ai dandar, ai dandar
Diz que eu sou feiticeiro
Mais que corda de vará
Parafuso macumbeiro
Faz macumba pra danar
Precisei fazer feitiço
Pra Nhô Chico namorar
O Nhô Chico foi lá em casa
Parafuso venha cá
Sinhá moça não me quer
E eu quero casar
Óia lá rapaziada
Eu falei a arranjar
Cobrei 5 mil cruzeiros
Me dá sua gaita pra cá
Senhores meus companheiros
Quem tem 5 mil cruzeiros
O retrato de Cabrá
Óia aí moçada
Senhores que aqui está
Ai dandar, ai dandar
Me deu uma nota farsa
E eu não quis aceitar
Me dá cá uma Tiradente
Dão tudo pro hospitar
Me dê vosso dinheiro
E eu precisei andar
E eu cheguei na cidade
Precisei a negociar
Compro um cartucho de porva
Para mim no meu quintá
E eu disse pra Nhô Chico
Me dá pena requeimar
Quando eu pus fogo na porva
Ele fez sarto mortá
Ó Nhô Chico meu amigo
Arrumei a moça encontrá
Peça o namoro com ela
Que a garota aceita já
O Nhô Chico saiu na rua
Andando tão devagar
Com a moça ele encontrou
Foi aquele vavavá
Pediu namoro prela
Ela não quis aceitar
Eu não dou cá para a roça
Papai não tem carroça
Que que eu faço co senda
E agora rapaziada
Eu preciso terminar
Ai dandar, ai dandar
Boa gente que aqui estão
Eu preciso terminar
Porque Lino na viola
Cuida bem do calendar
Tá Nhô Chico no pandeiro
Óia lá meu pessoá
Sou que nem relógio Omega
Taco fogo na bodega
Faço furo nos quintá.”
PB: Ele falou “que nem relógio Omega”, né? E ele tem um outro versinho assim, que ele repete sempre: “Sou que nem sordado velho/ Que na marinha serviu/ Dá baixa não se esquece/ Do balanço do navio”.
AC: Muito bom.
PB: Professor, o senhor lembra alguma coisa do que era o ritmo?
AC: Ah, sim, sim, claro. Aí está a carrera, que é a rima obrigatória. Ele está cantando em toada lisa, quer dizer, que é a mais fácil. Você rima só, por exemplo… tenho impressão que esqueci a carrera… Suponha que seja a “Carrera de São João”. Então tudo tem que ser em “ão” nos versos ímpares e os pares não têm rima. Agora, quando chegar um certo pedaço, eles fazem a toada dobrada. É que quando ele fala “ai dandar”, geralmente ele faz uma toada dobrada: sai da lisa e passa para a dobrada. Quer dizer, rima dois versos fora da carrera. Mas isso continua, sem dúvida nenhuma. Instrumentos, por exemplo, tanto quanto eu posso perceber, eram viola e pandeiro, pandeiro com guizo. Era com guizo, enquanto antigamente era viola com reco-reco, que faziam de bambu. Assim, viola com reco-reco.
PB: Não parece ser uma viola de cocho, essa.
AC: Não, não. Não, de jeito nenhum.
PB: É mais rústica?
AC: A viola de cocho aqui em São Paulo nunca vi usada. Eu só fui ver viola de cocho no Mato Grosso. No meu tempo, aqui no interior o pessoal todo tocava viola, viola comum, viola caipira comum, mas de corda, de caixa de ressonância com abertura, com tudo. A viola de cocho, como eu já disse, eu só fui ver no Mato Grosso, arredores de Cuiabá. Isso em 1954, faz 53 anos. Cuiabá era uma pequena cidade.
PB: Por que tão longe foi parar o cururu?
AC: Porque é zona paulista de expansão. A minha hipótese era a seguinte: se eu quero ver formas arcaicas, eu tenho que ver na periferia da Paulistânia. Onde é, qual é a periferia da Paulistânia? Minas para cá, Goiás e Mato Grosso para lá. Minas já está extremamente urbanizada, já devem ter desaparecido, então eu vou onde iam as monções, para lá do Mato Grosso, e lá encontrei. Lá encontrei o cururu de roda, com melodia muito primitiva e viola de cocho.
PB: Impressionante! Ali por Santo Antônio de Leverger, essa região?
AC: É um lugar que eu fui… eu estava com o professor Ruy Coelho, nós estávamos juntos. Não posso dizer a você aonde. Devo ter anotação disso e não sei onde está. Andamos mais ou menos uma hora de automóvel, perto de Cuiabá, talvez uns 50 quilômetros de Cuiabá, não sei. O lugar, não me lembro… O Sérgio Buarque de Holanda esteve lá também e quis ouvir cururu, foi e ainda viu cururu com viola de cocho. Por essa altura, mais ou menos, talvez um pouco depois ou um pouco antes.
PB: Bom, vou aproveitar e vou botar aqui agora, professor, uma tentativa de cururu que nós tínhamos em Na carrera do Divino.
AC: Tiro este aqui então… Este aqui, o que é?
PB: Este é um cururu que a gente botou – como se fosse – em Na carrera do Divino.
AC: Ah, esse com o Pessoal do Victor. Esse aqui eu tenho.
PB: Vamos botar o primeiro?
[Música]
“Ai lê lê lê, ai lê lê lê lê lê lê, ai ai lê lê lê, ai lê lê lê lê lê lê”
AC: Cielito lindo! Cielito lindo! Isso se chama “o baixão”.
[Continua a música]
“Agora nós vamos contar
Na carrera do Divino
Ai dandar ai dandar
A história de um povo
Que de longe já vem vindo
Vamo terminar com a terra
Pra saber como está indo
É de todo […]
Que essa gente vem seguindo
Meu Deus no mundo está
Por conta do destino
Eles vão daqui pra lá
Ai parece que tão fugindo
Ai dandar, ai dandar.”
PB: Eles costumavam pegar esse tipo de música e “desmanchar”.
AC: Dermanchar, já te contei: “Não é minha, professor, é dermanchada”. Esta aqui nem está dermanchada, está transposta – aproveitaram.
PB: É outra coisa…
[Música]
“Salve o Coração Sagrado
E o nosso Jesus Menino.”
PB: Para mim deu, professor.
AC: Esse é um cururu mais bem urbanizado, refinado como música.
PB: Essa já foi uma versão feita para a peça. O senhor tem mais alguma coisa para falar?
AC: Eu não sei o que você quer de mim exatamente: é só assistir e comentar um pouquinho?
PB: É bem isso mesmo, fazer essas comparações. E acho que agora eu vou lá para Cuiabá.
AC: Sei. Será que ainda tem alguma coisa lá?
PB: Então, isso seria interessante: ver se tem.
AC: Porque eu vi isso em 1954, deve ter sido em fevereiro de 1954. Isso aí
faz 53 anos.
PB: Professor, sabe que esse cantador de cururu, esse Parafuso, se chamava Antonio Candido?
AC: Ah! Interessante, meu xará.
PB: Seu xará. Curioso que o senhor também tivesse esse gosto pelo cururu.
AC: Nos encontramos através do cururu. Eu gostei demais do cururu. Durante anos… eu tinha ideia de fazer esse trabalho, que não fiz.
PB: É, mas o cururu seu era um cururu mais sagrado.
AC: Era diferente… o meu já estava a caminho disso… Tanto assim que eles já não cantavam mais espontaneamente o cururu religioso. Pedia, aí eles cantavam. O povo da cidade já não queria mais. Já estava urbanizado. Eles queriam gozação, o verso encontrado, como eles chamam a polêmica, e falar dos políticos, falar de dinheiro e meter o pau, isso que eles queriam. Por isso que o Juvenal Miano dizia: “Hoje, professor, não existe mais cururu, existe divertimento caipira sistema cururu. Porque cururu é abaixo da reza um grau”. Isso é o antigo. Mas tudo evolui.
PB: Eles faziam muito desafio de preto com branco.
AC: Muito, no meu tempo. O grande João Davi, talvez o maior que eu ouvi, nascido em Tatuí, mas vivia em Sorocaba. Ele cantava com o Sebastião Roque. O João Davi, o tempo todo chamavam de preto, de macaco, e ele reagia – mas eram todos amigos. João Davi era preto. Pedro Chiquito era preto.
Terceira sessão
PB: Muito obrigado pela entrevista.
AC: Prazer.
PB: O senhor começou os seus trabalhos, com Os parceiros do Rio Bonito, pensando em fazer uma pesquisa sobre o cururu. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso?
AC: Exatamente. Quem me chamou a atenção para o cururu foi, em 1946, o professor Roger Bastide. O professor Roger Bastide foi a Piracicaba e viu lá um cururu, e viu também umas manifestações religiosas que hoje são seitas que ficaram poderosas no Brasil. Naqueles tempos, os pentecostais estavam começando. Então, ele pediu para nós irmos a Piracicaba fazer entrevista com os pentecostais e os cantadores de cururu. Eu fui com a minha mulher e com o grupo de alunos a Piracicaba, naqueles bairros rurais, em torno de Piracicaba. Fiquei fascinado pelo cururu e tive a ideia de fazer um estudo, fazer um trabalho sobre o papel do cururu no processo de urbanização do caipira. Como é que o cururu era uma espécie de amaciador do choque com a cidade. Esse foi meu intuito. Eu comecei, trabalhei bastante tempo. Depois percebi que não podia fazer o trabalho, porque eu não conhecia música. Naquele tempo, não havia gravador: naquele tempo, a gente ouvia e anotava. Eu não sabia música para anotar a pauta musical. E os meus alunos anotavam as palavras correndo, de modo que era algo muito primário, primitivo. Eu percebi logo que não podia… Mas durante muitos anos eu ouvi cururu, fui atrás do cururu e me interessei muito.
PB: E como era esse cururu? Era diferente do cururu que hoje é feito pelas periferias?
AC: Eu hoje não sei como é. Naquele tempo, o cururu que eu vi já era um cururu urbanizado. Tanto assim que eu andei por zonas mais remotas, para ver se encontrava formas mais antigas de cururu, inclusive. Porque o verdadeiro cururu, como ele se formou – pelo que nós sabemos de testemunhos de Couto de Magalhães, de Von den Steinen, os primeiros, em meados do século XIX –, é uma dança e essa dança acabou. Era uma dança de roda em que havia um violeiro, havia um tocador de reco-reco (eles têm outro nome) e às vezes um pandeiro e eles vão se desafiando. Essa dança acabou. Então eu resolvi ir atrás dos lugares em que podia haver dança ainda. Então fui, por exemplo, a Bofete, onde acabei fazendo minha tese sobre outro assunto. Lá eu ainda vi o cururu muito rústico, muito primitivo e eu achei que aquilo ali já era muito urbanizado. Então fui mais longe, em 1954 eu fui ao Mato Grosso e, na região de Cuiabá, eu vi o que me pareceu ser o cururu realmente arcaico.
PB: Que é de fundo religioso?
AC: Já estava perdendo o fundo religioso, mas era musicalmente muito pobre. Esse cururu, do qual nós gostamos tanto, é um cururu enriquecido pela influência urbana. Eles ouvem muito rádio e fazem uma coisa muito interessante, que chamam dermanchar: eles dermancham.
PB: Copiam?
AC: Não, dermancham. Eles pegam a melodia e adaptam. Eu vou dar um exemplo. Eu estava num cururu, em um bairro chamado São João, na região de Piracicaba. Um cantador, chamado João de Ponte, cantou… eu não sei cantar, mas para você registrar e poder ter, eu vou tentar… Ele dizia, por exemplo: [Canta] “Minhas nobre senhoria/ Minhas boa companhia/ De saúde como vão/ Se tivere com saúde/ Por pouco que Deus ajude/ Então tá tudo muito bom”. Eu disse: “Nhô João, que coisa bonita”. “Professor, não é meu, é dermanchado” – dermanchado sabe do quê? “Lá vem o meu trolinho/ Vem rodando de mansinho/ Pela estrada além/ Vem trazendo pro meu ninho/ Meu amor que é meu carinho/ Que eu não troco por ninguém”(9). Ele ouviu no rádio e dermanchou. Esse processo de dermanchar é um dos processos fundamentais da cultura popular, aquele que, por exemplo, estetas franceses estudaram: o que eles chamam de degradação (não no sentido moral), de passagem do erudito para o popular por essas intermediações todas. Então o cururu que nós reputamos frequentemente uma coisa autêntica do caipira já é um dermanche, dermanchado, é a cultura urbana dermanchada. Esse é o cururu do qual nós gostamos. Agora, o cururu que eu fui ver em 1954, em companhia de um colega, Ruy Coelho, na zona de Cuiabá, é melodicamente muito pobre, porque era puro. Era um zangarreado “nhé nhé nhé nhé”… Mas tem dança de volta e a tal viola de cocho, que é uma viola muito pobre, ela não é oca.
PB: Que não tem aquela parte do meio.
AC: Ela não é oca, a viola de cocho, as cordas são esticadas sem a caixa de ressonância. Isso eu fui ver no Mato Grosso, em São Paulo já não vi mais.
PB: Mas esse dançado é como uma… como cateretê…
AC: Não. Imagine uma roda e eles vão andando ritmado, batendo, caindo sobre o pé direito.
PB: Como os índios?
AC: Como os índios, quase como os índios. Você tocou no essencial. A hipótese, creio que do Couto de Magalhães e certamente do Mário de Andrade, é que o cururu é uma invenção dos jesuítas de Piratininga, que utilizavam a dança de roda dos indígenas enxertando ali doutrina religiosa. Os índios gostavam de dançar em volta, cantando seus feitos de caça, a onça que matou, o adversário que derrubou, o inimigo que matou. Então os jesuítas aproveitaram e dermancharam isso, eles fizeram o contrário. Os jesuítas puseram cantando Nossa Senhora, vida de Jesus: o cururu primitivo é religioso. Eu conheci um velho cantador, Juvenal Miano, em Piracicaba, que me dizia: “Professor, esse cururu de hoje não é cururu, é uma avacalhação. Falando mal da vida alheia, dizendo porcaria. Cururu…” – veja que fórmula linda – “cururu bom é abaixo de reza um grau”. E era uma reza. Essa hipótese de Mário de Andrade, que os jesuítas aproveitaram a dança de roda indígena… Porque os guaianazes de Piratininga, ou eram tupis ou eram destupinizados. Entre as tribos tupis, a dança é circular. Então, talvez essa seja a origem do cururu. E o que nós vemos, hoje em dia, é um cururu secularizado, é um cururu sem religião, é um cururu urbanizado, é um cururu do campo, é um cururu individualizado, em que os valores coletivos cedem lugar aos valores individuais. Então, um fala para o outro: “Você é burro, você não sabe quem descobriu o Brasil?”. “Burro é você, que não sabe o que foi Treze de Maio”. Está individualizado, secularizado e urbanizado. Esse foi o cururu que eu encontrei e nesse sentido é que era o meu trabalho.
PB: O senhor fala também alguns nomes de cururueiros que o senhor conheceu, esses já eram…
AC: Já, já eram… Eles se adaptaram à exigência do público. Eu vi muito, no Teatro Santo Estevão de Piracicaba, cururu em que não havia mais nem vestígio de dança, é claro. Então, ficam dois contendores, um discutindo com o outro. Um discutindo com o outro e aí então há uma coisa muito interessante, a parte religiosa é frequentemente substituída pelo civismo. Eles liam nos seus livros de escola primária a descoberta do Brasil, então eles perguntavam… Lá esse cururu, em vez de ser sobre religião, já era sobre Fernão Dias Paes Leme, compreende? Até Getúlio Vargas entrava nesse negócio, está secularizado. Agora, os velhos cururueiros, esses que eu conheci, começaram no cururu religioso. Então eles sabiam cantar, aí eles cantam o casamento de Maria, eles cantam a criação do mundo, eles cantam o paraíso, mas, sobretudo, quando é um pedaço que eles fazem. Porque o povo logo pede, querem briga, querem briga. Então, lá um dia, passaram a brigar… Agora, o belo cururu é o cururu em que entram os elementos religiosos.
PB: Eles cantam uma saga, uma coisa assim?
AC: É. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Um grande cantador de cururu de Piracicaba, Agostinho de Aguiar, conta que Deus criou um jardim muito bonito e botou lá um ser que era um anjo chamado Lusbel, e dizia para ele: “Você pode fazer tudo aqui nesse jardim, só não pode sacudir o ramo dessa árvore”. E o tal Lusbel a primeira coisa que fez foi sacudir o ramo da árvore, aí foi punido. É uma maneira de explicar Adão comendo a maçã. Então, ele dizia, por exemplo: [Canta] “Lusbel não chacoaia este ramo/ Chacoaia não, será sua perdição/ Magina só qual foi a resposta/ Foi só Deus virar as costa/ Ele deu um chacoaião”. Você está vendo aí uma forma do jardim do paraíso à maneira caipira. Sebastião Roque cantava, por exemplo – essa que eu te cantei é trova dobrada com duas rimas, enquanto que Sebastião Roque, eu vi ele cantar em toada lisa, que é a toada tradicional, o casamento de Maria. São Joaquim, o pai de Maria, fala para ela: “Maria você já está moça, está precisando casar, precisamos arranjar um noivo para você”. Maria não queria casar porque ela era muito pura… [Canta] “Ai, ai, Maria era um cravo lindo/ Ai, ai, Maria era um encanto encarnado/ Ai, ai, a essa voz de casamento/ Sem ouvir mais argumento/ Maria sartou de lado”. “Sartar de lado” significa recusar no dialeto caipira. Bonito, né?
PB: Muito bonito.
AC: Beleza. De modo que esses pequenos exemplos, que eu lhe dou, mostram que o cururu bonito realmente, que ainda peguei, era o cururu já urbanizado, já secularizado, já individualizado, mas que ainda guardava o passado não só sob a forma religiosa, como a história do Brasil, a política, cantada à maneira religiosa. O Sebastião Roque tem um folheto em que constavam os paulistas. O paulistismo nessa fase era muito agudo – bairrismo paulista, o orgulho de ser paulista. Então dizia: o paulista Baltazar da Costa Cabral, ou coisa que o valha, foi a Portugal e levou uma banana de ouro, um cacho de bananas de ouro para o rei. Não banana-ouro, um cacho em que as bananas eram de ouro. Ele levou lá e deu para o rei. Aí o rei disse para ele: “Puxa, que coisa formidável, o que você quer em troca disso?”. “Eu não quero nada.” Porque os paulistas dão e não pedem… Aí você tem a religião substituída pelo patriotismo. Esses valores ainda havia no meu tempo. Hoje, eu não sei como é.
PB: Esse era o Miguel Roque?
AC: Esse é um folheto que eu li do Sebastião Roque, que é lá de Pereiras. Agora, o povo gostava já nesse tempo era de um certo abastardamento do cururu tradicional, porque era a disputa pessoal, e o sujeito chamando: “Sai daí, cara de porco, focinho de montaria!”. Ofensa mesmo… Todos amigos, é claro, mas fingiam. Então o Sebastião Roque dizia para o João Davi que ele era preto, preto é macaco, e o João Davi respondia de lá que ele era louro, louro não sei o que lá… De modo que esse cururu que eu peguei, o cururu desse momento, em que havia resquício de cururu antigo… porque o Juvenal Miano me explicou o seguinte: o verdadeiro cururu é o cururu feito sobretudo para pagamento de promessa.
PB: Os versos são feitos para isso?
AC: Não, não. Eu plantei a minha roça, por exemplo, eu prometo para São João, se o meu milho granar bem, eu faço um cururu para São João. O milho grana, eu tenho colheita, aí eu junto o pessoal do bairro e faço um cururu. Dizia o Juvenal Miano: o verdadeiro cururu é o cururu feito diante do altar, com as imagens, em que você fala de Deus, você fala dos santos. As adivinhas que você pergunta, em vez de ser ofensa pessoal, é coisa religiosa, por exemplo: quantos botões tem o casaco de Jesus? Resposta: três – fé, esperança e caridade. Tem coisas assim. Isso eles faziam na casa, diante das imagens. Agora, lá fora pode fazer um outro cururu. Aí é um cururu de verso encontrado, que é um contra o outro. “Você é burro, você é feio”, “você é pobre, eu sou rico”, “você é bocó e eu não sou”, etc. Aí é ofensa pessoal. Isso, diz ele, não pode ser feito diante do altar, porque aí a coisa não é mais religião. E ele distinguia bem. Eu conheci uma espécie de mistura desses dois cururus.
PB: Esse que era feito no Teatro Santo Estevão?
AC: No Teatro Santo Estevão é um espetáculo, ele se dava em espetáculo à plateia. Agora, eu vi o cururu, a maior parte que eu vi foi dentro de um sítio em volta. E eu anotando, observando tudo, com os meus alunos ali, eu anotando. Um deles cantou: “Seu Antonio ganha a vida de mansinho/ Com um lápis daqui para lá”. Agora, eu vi coisas lindíssimas, essa coisa religiosa. Eu me lembro dum cantador, Antonio Vilanova, em que a gente sente a presença da cultura portuguesa tradicional. A cultura de Portugal tradicional presente na cultura caipira. Ele propõe a seguinte adivinha: “Três dias… três dias choveu areia/ Quatro dias venta ventou/ As árvore verde secaram/ E as seca brotaram frô”. Resposta: “Da cepa nasceu a rama/ Da rama nasceu a frô,/ De Ana nasceu a virge/ E da virge o Salvador”. Aí você vê a adivinha religiosa, mais ou menos isso.
PB: O senhor falou e me explicou o secularizado?
AC: Secularizado é o seguinte: quando você passa do tema religioso para a história do Brasil, você está saindo do sagrado, está passando para o século, para a vida. A secularização é a perda do valor religioso e a aquisição de valores civis. Então, quando você, ao invés de falar da Virgem Maria, de São José, você fala de Pedro Álvares Cabral, você fala de Getúlio Vargas, ou você fala de Fernão Dias Paes Leme, você está secularizando, é secularização. Quando você não propõe mais adivinhas de temas religiosos, mas você fala: quero que me responda isso, você é um burro, eu sou mais que você, eu já fui a São Paulo e você não foi, eu andei de trem e você vive aí de pé no chão – você está aí individualizado e perdendo o caráter coletivo. Religião é um valor coletivo. A disputa desse tipo é individual. Então, você tem a secularização e tem a individualização e a urbanização. Em vez do cururu ser feito por motivos religiosos, por causa de uma promessa ou diante da imagem do santo, ele é feito na cidade como diversão, como cinema, como teatro. Você tem a secularização, a individualização e a urbanização. É isso que eu estava estudando no cururu.
PB: No Parceiros do Rio Bonito?
AC: Não, não, quer dizer que eu pensei em estudar e desisti.
PB: E aonde foi esse material?
AC: Eu tomei muita nota e perdi esse material, não sei aonde foi parar. Mas é que eu gostava muito de cururu, eu ia por prazer. De modo que eu acabei tendo bastante familiaridade.
PB: Você lembra de mais alguma história?
AC: Uma coisa muito interessante no cururu, esse cururu que vi no Mato Grosso, por exemplo, é um cururu de uma pobreza, uma coisa extraordinária. Mas agora não tem mais graça nenhuma, só tem a graça da verificação, não tem beleza nenhuma. Agora, à medida que o cururu foi se urbanizando, foram dermanchando melodias, que eles ouviam na cidade, tudo isso, foram enriquecendo… Porque o que há no caso do cururu é o que acontece na cultura caipira. É uma troca constante, o tema caipira vai para a cidade e o tema da cidade vai para o caipira, não há isolamento, nós somos da mesma civilização, do mesmo lugar, da mesma religião, da mesma tradição, é uma troca constante. Assim como o Villa-Lobos pega um tema do folclore, o cururueiro pode tirar um tema de Villa-Lobos e transformar em desafio de cururu. É uma troca constante, essa troca é muito enriquecedora. No começo, o cururu usava só a toada simples, a toada batida, toada lisa, que é assim, por exemplo: [Canta] “Maria era um cravo lindo/ Maria era um cravo encarnado ai, ai/ Maria era um cravo lindo/ Ai, Maria era um encanto encarnado”. A toada lisa é assim, quando você tem uma rima só, uma rima constante, e a outra rima o verso 1 com o 3. [Canta] “Bendito, louvado seja/ Bendito, louvado são/ À direita de Deus padre/ Tem um filho de a benção/ Rei do mar, rei da terra/ Rei de todas criação”. É só uma rima, aquelas outras não rimam entre si. É só essa, que é uma rima banal, que é a carrera, que é a linha. “Carrera de São João”, “Carrera do Papa Capim”, “Carrera do Tatu Pombinho”, “Carrera do Dia”. Compreende? Carrera é a rima. Eu, por exemplo, aí falei a “Carrera de São João”, que termina em “ão”. Tem a “Carrera do Sagrado”, que é rima em “ado”.
PB: São as rimas fáceis?
AC: Geralmente, muito fáceis. Agora, as outras falam que têm mas não usam. Ah, a rima difícil é a rima do Papa Capim, mas não cantam nela. Tem a rima do Tatu Pombinho, mas acaba sendo sempre “Carrera do Sagrado”, “Carrera de São João” e “Carrera do Dia”. Que o cururu começa necessariamente pela “Carrera de São João” e a última rodada, “Carrera do Dia”, porque o dia já está despontando.
PB: Eles improvisam muito?
AC: A improvisação é sempre uma coisa relativa. Eles já têm os bordões prontos. Então eles falam, por exemplo (você vai lá e pronto): “Eu estou aqui com um amigo meu, que é o Paulo Betti, ele é um ator muito importante”. Aí eles vão te saudar: [Canta] “Meu amigo Paulo Betti/ Essas pro seu lado vão/ Esse é um ator famoso/ E de grande ilustração”. Esses bordões deles, “Como vai suas família/ Os seus filhos como vão/ Se tivere com saúde/ Então tá tudo muito bom”, são os bordões, e o resto eles estão inventando, tudo misturado, raramente você tem improvisação pura. Porque tem os bordões que eles colocam aqui e vão ajudando.
PB: Eles estão previamente preparados?
AC: Eles vão misturando, é claro que a presença de espírito é muito importante. Quando são dois cururus que não se conhecem, aí a coisa pode ser mais complicada, conhecem pouco, porque um não sabe o que o outro vai dizer, mas esses conhecidos, eles já conhecem um ao outro. Parafuso, João Davi, já conhecem tudo, já sabem o truque do adversário.
PB: Sebastião Rosa…
AC: Sebastião Roque, Pedro Chiquito, Zico Moreira, esses eu vi todos cantar. Parafuso eu não vi.
PB: Alguma coisa sobre o Cornélio Pires?
AC: O Cornélio Pires eu vi em menino, eu morava em Poços de Caldas Cornélio Pires foi lá com essa dupla Caçula e Mariano, então cantavam moda de viola. Ele cantou modas da Revolução de 1932, que São Paulo estava muito magoado com a derrota. [Canta] “Paulista ficou sozinho/ Lutando contra o Brasil” – eles cantam lá. Agora, ele era um grande contador de anedota, ele era extraordinário. No espetáculo dele que eu vi em Poços de Caldas, ele contava duas, três, quatro anedotas e o pessoal torcia de rir. Aí vinha a dupla e cantava uma moda de viola, uma coisa de cana verde, um episódio de cururu, aí ele voltava e contava anedota… Mas isso eu vi sabe quando? Em 1934.
PB: Mas isso era em 1934: teria sido ele que levou o cururu?
AC: Dizem que é. Me contaram, em Piracicaba, que o Cornélio Pires foi a primeira pessoa que pegou o cururu e pôs no palco para ganhar dinheiro, para comercializar, porque pagava entrada.
PB: E moda de viola, ele levou as primeiras duplas também?
AC: Bom, isso eu não sei. Moda de viola é bem mais geral. É, me disseram. Moda de viola… Bom, em Piracicaba eu vi muito cururu, vi muita cana verde, dança de roda também.
PB: Bom, mais algumas lembranças do cururu? Sobre esses que o senhor viu ou algum que tenha ficado…
AC: Não, não. Eu já esqueci muita coisa, coisa de 60 anos atrás, as minhas notas eu nem sei, acho que dei para um aluno meu. É isso que eu falei, o cururu é uma coisa religiosa, depois se secularizou. Eu pessoalmente observei o seguinte, Paulo, é que, como muitas outras manifestações culturais ou caipiras, o cururu era extraordinário amaciador cultural. Porque o caboclo, se você tira ele do bairro dele e joga como vigia noturno em São Paulo, como soldado da Força Pública ou como operário, o choque é medonho. Ele é tirado do mundo dele e jogado aqui, ou em Piracicaba ou em Sorocaba, ou em Botucatu, em qualquer lugar, em São Paulo é pior. Então você percebe que essas práticas caipiras, que eles praticam geralmente no fim da semana, são a recuperação parcial do mundo perdido. Então, no cururu que é feito sábado à noite, geralmente, ou domingo, aí ele volta para a cultura caipira. Então você vê, eles vibram com “Ó fulano!”, eles vibram mesmo com o cururu que é feito no palco, cururu totalmente artificial. O cururu feito aqui na Casa Verde, ou na Vila Maria, o pessoal se reúne, toma quentão – compreende? –, se reúnem com os conhecidos e voltam um pouco para a placenta. De modo que o que queria estudar nesse meu trabalho – que eu não fiz – é a secularização, a urbanização, a individualização, e o cururu servindo graças a isso de amaciador do choque cultural. O cururu, a meu ver, tem uma grande função nisso. Porque o caboclo voltava, um pouco artificialmente… e quando o cururu incorporou muito a cultura urbana – falando de Getúlio Vargas, trabalhismo, eleição de deputado – ele vai se adaptando ao mundo urbano.
PB: Eu sinto que em Os parceiros do Rio Bonito, embora o senhor não tenha tratado…
AC: Dessa crise que eu estudei… Eu trato de coisas parecidas, alimentação, economia, etc.
PB: Isso afeta psicologicamente…
AC: Claro, afeta psicologicamente tudo.
PB: Quer dizer: o mundo que se transforma, que se perde, e isso ele encontra no cururu.
AC: Exatamente, encontra no cururu, é uma recuperação. Naquele tempo, agora eu não sei como é, naquele tempo isso ajudava o caboclo arrancado da roça e jogado na cidade a diminuir a dureza do choque. E, ao mesmo tempo, se adaptar um pouco à cultura urbana. O que ele ouvia sobre religião e coisas rurais, ele ouve agora com Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, com Juscelino Kubitschek, com a história do Brasil.
PB: É muito bom. Eu acho que eu queria perguntar mais alguma coisinha: mas não tem nada a ver exatamente entre Os parceiros e o cururueiro?
AC: Não tem, não.
PB: E as narrações do velho Roque Lameu? Eram cururu ou não?
AC: Não, não eram.
PB: O Nhô Roque era cantador de cururu.
AC: Mas aquilo não é cururu. Aquilo é o populário, são histórias que eles têm, que eles ouvem, são os contos populares, que eles contam. Aquelas do Nhô Roque são muito interessantes.
PB: Aquela visão do apocalipse…
AC: Aquela visão do apocalipse é extraordinária, já misturado com bomba atômica. “O povo estrangeiro tem uma bomba que se cair em Conchas mata tudo até aqui.”
PB: E é tão pertinho, Conchas. Eles não sabiam que era muito mais poderosa, a bomba.
AC: Eles imaginavam que era só de Conchas a Bofete.
PB: Eu tinha uma empregada aqui em Cotia que falava que tudo que ela via na televisão, que tinha acontecido ali, qualquer crime, qualquer assassinato, pois é: “Aconteceu pertinho”.
AC: A visão que eles têm do mundo é totalmente fechada. Eles achavam, por exemplo, em 1948, quando eu passei 20 e tantos dias lá num bairro rural de Bofete, eles diziam: “Roda aqui não chega”. Não chegava a roda, você tinha que ir a pé ou a cavalo. “Aqui não chega a roda.” Lá, uma vez, um caboclo de 90 anos de idade, ele dizia que achava que tinha mais ou menos 90 anos, então ele tinha nascido em 1850 e poucos, 50 e tantos. Ele perguntou para mim: “Como vai o imperador?”. Eu falei para ele: “Vai bem”. Ele disse: “Mas não é mais aquele velhão de barba branca?” “Não, agora é outro, chamado Eurico Gaspar Dutra”, eu falei para ele. “Ah, bom.” Mas ele me disse uma vez – eles não te perguntam nada, eles esperam que você fale, eles são muito educados. Eu percebi que ele queria saber… Começou a rodear… Ele queria saber de onde eu era. Aí eu falei para ele: “Nhô Samuel, eu sou mineiro, eu sou de Minas”. “Ah, eu não maliciei, o jeito do senhor falar é igual o da gente, mas… mineiro é a mesma coisa que nós, eu vi uma vez perto do Anhembi um mineiro levar uma facada na barriga, coisa feia. O sangue que saiu é igualzinho ao nosso.”
PB: O senhor acha que ganhou alguma coisa nesse sentido, o seu comportamento tem alguma coisa assim?
AC: Eu, não. Bom, eu adoro o mundo caipira. Como eu lhe disse, eu fui criado no sudoeste de Minas, numa cidadezinha que no meu tempo não tinha 5 mil habitantes, não tinha estrada de ferro, o telégrafo era recente. Eu tinha um tio, por exemplo, que cantava moda de viola. O meu avô cantava muita moda de viola, eu não me lembro muito dele. Mas eu tinha um tio que tocava moda de viola e dançava o cateretê, puxava cateretê, esse mundo me é muito familiar. É o meu mundo, então me sinto muito bem nele. Não vou dizer que eu sou caipira porque seria uma afetação. Eu vivo muito bem os valores caipiras.
PB: Mas o “familiar” saiu com um sotaque aí.
AC: Pois é. Meu caso é um pouco complicado porque minha mãe é do Rio de Janeiro: eu tenho uma mistura de “r” sul-mineiro, que é o “r” paulista, com o “r” do Rio de Janeiro. Eu misturo os dois. Que minha mãe tinha o sotaque carioca muito acentuado.
PB: Posso perguntar mais uma coisa?
AC: Pode.
PB: Das músicas caipiras, vamos dizer assim, tem alguma que o senhor gosta mais ou que o marcou mais?
AC: Ah! Tem muitas. Olha, a música caipira que me marcou mais foi uma música – não de cururu – que aprendi lá de menino, lá no sudoeste de Minas. Que é o lamento do boi que vai para o matadouro, que é uma beleza e foi trazida provavelmente – meu avô era criador de gado – pelos boiadeiros do meu avô. [Canta] “Eu sou um boizinho/ Que nasceu no mês de maio/ Me botaram no piquete/ E me tomaram todo leite/ Fui andando pela estrada/ Capim verde me chamou/ Não me chama capim verde/ Que eu já vou pro matadouro/ Adeus sertão, adeus Cuiabá/ Amanhã por essas horas/ Estarei no matadouro.” Isso, para mim, era uma coisa que era pungente na minha infância. A coisa caipira que mais me tocou na vida foi a história do boizinho. As melodias caipiras, já assim um pouco urbanizadas, dermanchadas, são muito bonitas. A minha mãe cantava um negócio do ciclo do boi – minha avó morou em Barbacena um tempo, minha mãe era menina – que é uma beleza. Como é que é mesmo? [Canta] “Gente vamos rezar/ Por alma do pai carrero/ Que lá vai subindo o morro/ Sem carro e sem candieiro/ Por isso mesmo/ É que eu não quero candiar/ Você pega o boi laranja/ Mas não pega o marruá/ Você pega o boi laranja/ Na porteira do curral/ Você pega o boi laranja/ Mas não pega o marruá/ Gente vamos rezar/ Por alma do pai carrero/ Que lá vai subindo o morro/ Sem carro e sem candieiro.”
PB: Que lindo!
AC: Eu sou muito do mundo caipira. Agora, essas coisas são para você, não vai me botar isso na televisão. Isso é para o seu uso.
PB: Não, eu vou te mostrar um dia, quando tiver o resultado.
AC: Uma vez me pediram para fazer um programa, um amigo meu, faz 30 anos. O Adauto Novaes, aquele que faz os grandes programas: eu falei sobre os problemas de ética, não é, e no fim ele desligou. Ele falou: desliguei. Eu perguntei: está desligado? Aí comecei a falar: esse negócio de casamento de padre é uma bobagem, não deixar os padres casar, citei coisas e tal. Você sabe que eu ligo lá a Rádio Cultura e estou lá falando essas coisas? Uma traição completa.
PB: Agora eu lembrei que o senhor fez uma palestra na Casa da Gávea.
AC: Nessas séries do Adauto…
PB: Foi sobre Shakespeare.
AC: Foi sobre Ricardo II, de Shakespeare… Foi uma das séries do Adauto. É isso.
PB: Professor, desculpe…
AC: Isso aí eu fiz mais para vocês terem material… por isso falei mais panfletariamente… eu falaria normalmente, mas não assim desabotoado…
PB: Eu queria perguntar alguma coisa sobre nossos autores que enveredaram pelos caminhos… que talvez Valdomiro Silveira…
AC: Olha, essa coisa é uma questão muito complicada. Porque aí você tem, de um lado, o documentário, aqueles que fazem o documentário, e aqueles que fazem ficção com o mundo caipira e é uma coisa meio… O Brasil, entre 1900 e 1930, teve uma coisa chamada literatura sertaneja, que era uma coisa muito idiota, compreende? Porque no fundo ridicularizava muito o caipira. Uma canção assim: “Nhá Noca, esses seus olhinhos/ São crianças malcriada/ Que mexe tanto com a gente/ Que deixa a gente atrapaiada”. Essas bobagens com a música caipira – compreende? –, como se o caipira fosse bobo, por acaso. De modo que é muito perigoso entrar aí. Agora, os escritores que falaram sobre o mundo caipira, sobre coisa sertaneja, o Coelho Neto, por exemplo, do livro Sertão, é atroz de pedantismo. É bonito, ele é um grande escritor, mas é atroz de pedantismo. Agora outros, por exemplo, Afonso Arinos, no livro Pelo sertão ou em Histórias e paisagens, tem alguns contos que são admiráveis porque aí ele não banca os “Nhá Noca” e “seus olhinhos”, e escreve como um homem civilizado, aproveitando e estilizando um pouco o mundo caipira. O Afonso Arinos eu acho interessante. O Valdomiro Silveira tem coisas muito interessantes, tem histórias muito bem contadas e ele era um conhecedor do mundo caipira. Sem dúvida nenhuma. Se você quer uma coisa mais próxima do documentário, você tem o Cornélio Pires, que estilizava aquilo, fazia anedota, mas o documentário está vivo atrás, está próximo. No meu tempo de menino estava muito em moda, havia poesia baseada em coisa de caipira. Agora você tem o nosso caipira aqui, você vê alguns escritores que foram muito fundo nisso. Tem um goiano, o Bernardo Elis, que é muito bom. Ele representa o mundo caipira, sem folclorismo, sem pitoresco vulgar e faz sentir muita miséria, a coisa do caipira. Ô Paulo, tem um livro que foi organizado pelo Flávio Aguiar, que é sobre a literatura que cuida dos problemas da terra e do homem da terra, foi editado pela Boitempo. É um livro grande, eu fiz o Prefácio. Eu não sei onde está, senão eu te dava aqui. Mas talvez seja útil para você.
PB: Vou atrás.
AC: Flávio Aguiar, Editora Boitempo, aí você já tem um livro em que os escritores – em que a literatura – cuidaram do homem rural. Aí você tem um bom repositório.
PB: Amadeu Amaral…
AC: Amadeu Amaral? Ele não escreveu ficção sobre caipira, ele é autor de um livro precioso que escreveu sobre O dialeto caipira. E ele estudou lendas e Tradições populares do caipira, que foram reunidas em volume pelo Paulo Duarte e com estudo prévio de Florestan Fernandes, Editora IP… Isso eu não sei se foi reproduzido mais tarde. Esse é grande. Ele é de Capivari.
PB: É, tem um livro chamado Algema de ferro.
AC: Não, não sei.
PB: Quando a gente fala o caipira, o sertanejo, é…
AC: Aqui em São Paulo, o sertanejo seria o caipira. No Nordeste, seria lá o capiau deles, que seria totalmente diferente. No Rio Grande do Sul, o sertanejo seria o gaúcho. É para nós aqui, o caipira.
PB: Quando o senhor fala do Afonso Arinos, já era o caipira?
AC: Pelo seguinte: eu chamo de caipira o homem rural que nasceu da expansão paulista, o caipira é um fenômeno de raiz paulista. O caipira é um habitante da região que o professor Alfredo Ellis Junior, que foi meu professor de história na faculdade, chamava de Paulistânia.
PB: Um momento professor, preciso trocar a fita…
[Fim da entrevista]
(1) Três anos antes, em 1943, alunos e assistentes empenharam-se em pesquisa de campo sobre batuque, em Tietê, também por iniciativa de Roger Bastide (cf. Antonio Candido, “Opinião e classes sociais em Tietê”, publicado neste dossiê). O histórico dos textos de Antonio Candido que compõem este dossiê pode ser acompanhado em: Vinicius Dantas, Bibliografia de Antonio Candido, São Paulo, Duas Cidades, 2002.
(2) Publicado neste dossiê.
(3) No mesmo ano, publicaria “A vida familiar do caipira” (in Sociologia, vol. XVI, n. 4, 1954), posteriormente integrado a Os parceiros do Rio Bonito quando de sua edição em livro (1964).
(4) Publicado neste dossiê.
(5) São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
(6) Teté Ribeiro, Paulo Betti: Na carreira de um sonhador, São Paulo, Imprensa Oficial, 2005.
(7) Estudos Avançados, n. 58, São Paulo, IEA-USP, 2006.
(8) Dirigido por Adriana Jacobsen e Soraia Vilela (2013).
(9) Ary Barroso, “Upa! Upa! (Meu trolinho)”, 1940.